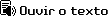25/11/2013 - Copyleft- Blog Carta Maior Seção Princípios Fundamentais
Fábio de Sá e Silva (*)

Buscando demonstrar força contra o movimento das diretas, que ganhava corpo com a apresentação da emenda Dante de Oliveira, o ex-presidente João Figueiredo editou o Decreto n. 88.888, de 19 de outubro de 1983, estabelecendo medidas de emergência no Distrito Federal.
Dias depois, o general-comandante do Planalto, Newton Cruz, ordenava a invasão da sede da OAB/DF. A alegação era de que a Seccional da entidade estava promovendo um encontro político, em afronta direta às medidas impostas pelo Decreto. Tratava-se, na verdade, do I Encontro de Advogados do Distrito Federal, que vinha sendo planejado havia cerca de um ano.
Na madrugada que se sucedeu ao evento, as instalações da OAB/DF foram invadidas pela Polícia Federal, que apreendeu as fitas destinadas supostamente a registrá-lo, mas que, durante as diligências, alguns advogados e funcionários da OAB/DF providencialmente substituíram pela coleção de música sertaneja mantida pelo operador do som.
Assim que o dia amanheceu, o então presidente da OAB/DF, Maurício Correa, deu uma coletiva à imprensa denunciando a invasão. A entrevista ainda acontecia quando o delegado responsável pelo caso na PF chegou com uma ordem para interditar permanentemente a Seccional.
Correa se negava a assinar a ordem, alegando que nem na era Vargas haviam sido adotadas medidas como aquelas. Ocorreu, então, que os advogados presentes resolveram descer pela escada os quatro andares que os separavam do térreo. De braços dados junto com Correa, e posicionados de frente para os mastros nos quais ficavam hasteadas as bandeiras do Brasil e da OAB, cantaram o hino nacional.
A foto dos advogados de braços dados estampou as capas dos principais jornais no dia seguinte, gerando repercussão extremamente negativa para o regime. Já o Inquérito Policial Militar aberto para investigar os dirigentes da OAB/DF se debatia desde o início contra a falta de provas sobre o dito caráter político da reunião. Não demorou muito, assim, para que o próprio Cruz tivesse de depositar uma pá de cal sobre o assunto, admitindo publicamente que a invasão havia decorrido do “excesso de zelo” das autoridades. O acesso ao prédio, enfim, foi novamente liberado.
É bom que a memória deste episódio – ou dos muitos paralelos que ele traz na história – esteja bem viva entre os juristas brasileiros, no momento em que, por conta da execução de penas fixadas na ação penal 470 (o chamado processo do mensalão), o relator do caso e Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, adota uma série de medidas violadoras dos direitos e garantias constitucionais dos condenados.
Essas medidas começaram com Barbosa traindo sua própria promessa ao plenário quando, ao encerrar a sessão da quarta-feira, dia 13 de novembro, afirmou que na quinta-feira, dia 14, levaria ao conhecimento de seus colegas uma síntese das prisões que pretendia decretar. Como nenhuma lista foi trazida e o dia seguinte era o feriado de 15 de novembro, proclamação da República, a expectativa era de que qualquer decretação de prisão só poderia vir na semana posterior.
A ordem de prisão, no entanto, foi emitida exatamente no feriado e contra um subconjunto dos réus que até agora não se entende bem como foi determinado, já que não alcançou outros condenados na mesma situação dos que foram presos, como os ex-deputados Roberto Jefferson (PTB-RJ), Pedro Corrêa (PP-PE) e Bispo Rodrigues (PL-RJ), o ex-dirigente do Banco Rural Vinícius Samarane, o advogado Rogério Tolentino e os deputados Valdemar Costa Neto (PR-SP) e Pedro Henry (PP-MT).
A ordem de prisão também não foi acompanhada da chamada carta de sentença, documento que o Conselho Nacional de Justiça, órgão presidido pelo próprio Barbosa, entende ser necessário para que tenha início a regular execução da pena. Sem a carta de sentença, que prevê a quantidade de pena a ser cumprida e as condições iniciais de cumprimento, representando o “título executivo” da pena imposta a condenados, a prisão de qualquer indivíduo não deixa de ser medida arbitrária. Nesse sentido, a manutenção dos presos por alguns dias em regime fechado, quando a condenação em questão era a pena em regime semiaberto, foi apenas o desdobramento lógico de uma prisão juridicamente mal calçada.
Tampouco foram dadas justificativas (quaisquer) para que os presos tivesse que ser transportados para Brasília. O entendimento corrente na execução penal brasileira é de que condenados devem cumprir pena o mais próximo possível de seu meio social e familiar, a menos que não haja vaga ou que haja algum problema de segurança. Nenhuma dessas hipóteses foi levantada pelo Ministro e muito menos pelos condenados, muitos dos quais de pronto solicitaram retorno aos seus estados de origem. Junto com a expedição dos mandados em dia de feriado e o foco em apenas alguns dos réus, especialmente os do PT, essa medida tem sido vista como indicativa de que a decretação das prisões tinha objetivos antes de tudo midiáticos, fosse no sentido de promover politicamente o subscritor dos mandados, fosse no sentido de humilhar os réus.
O capítulo mais recente dessa novela – eu não me arriscaria a dizer o último – foi a pressão de Barbosa para a substituição do Juiz do Distrito Federal, Ademar Vasconcelos, no acompanhamento da execução dessas penas. Segundo relatam os jornais, a ofensiva teria surtido efeito e, embora não deva haver nenhuma designação formal, os próximos atos da execução das penas devem ser praticados por Bruno Ribeiro, filho de ex-deputado distrital pelo PSDB. Bruno é considerado um juiz mais duro que Ademar e mais alinhado com Barbosa. Seu primeiro ato no processo foi o estabelecimento de 12 condicionantes para que, após ter recebido alta do hospital, o ex-deputado José Genoíno pudesse aguardar em casa de familiares a decisão sobre seu pedido de prisão domiciliar. Entre essas condicionantes incluem-se não deixar o imóvel a não ser para tratamento médico e não dar entrevistas ou fazer manifestações à mídia.
Mas se é verdade que todas essas medidas têm despertado cada vez mais repulsa na mídia e nas redes sociais, impossível deixar de observar o grande e constrangedor silêncio de que elas têm sido cercadas entre os operadores do direito. Qual a opinião dos demais Ministros do STF sobre as medidas adotadas por Barbosa? Entendem eles que essas medidas corroboram para concretizar o que decidiram? Qual a opinião do Ministério Público Federal que, uma vez tendo obtido a condenação dos acusados, deveria atuar como fiscal da lei na execução das penas? Qual a opinião das entidades de classe? Salvo nota da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, referindo-se especificamente ao caso de José Genoíno, ninguém mais sinalizou desconforto com as decisões do Ministro.
Episódios como o da invasão da OAB/DF costumam dar margem a leituras românticas, nas quais as profissões jurídicas são tidas por inerentemente vocacionadas à confrontação do status quo e à luta pelas liberdades e pela democracia.
Estas leituras, todos sabemos, não resistem a um escrutínio mais rigoroso da história. Mas ainda que possam ser coniventes com autoritarismos de toda sorte – e, no limite, podem até ajudar a instrumentalizá-los –, é chegada uma hora em que os juristas têm de se colocar de maneira inequívoca em defesa de liberdades e da democracia. Se não for por forte convicção, é porque disso depende a sua própria legitimidade nas sociedades modernas. Sem que as pessoas acreditem que o direito pode ser um instrumento de contenção do arbítrio, não há porque admitirem que advogados (mas também juízes e promotores) desfrutem das prerrogativas que têm (e são tantas que nem daria para enumerar aqui).
As medidas de Barbosa, e isso parece claro até mesmo para setores da imprensa que há pouco lhe eram simpáticos, não são tão diferentes das de um Newton Cruz. Estarão os advogados, juízes e promotores de hoje à altura de um Mauricio Correa? Ou será que isso seria lhes pedir demais?
(*) PhD em Direito, Política e Sociedade pela Northeastern University (EUA) e Professor substituto de Teoria Geral do Direito da Universidade de Brasília. As opiniões deste artigo são de caráter estritamente pessoal