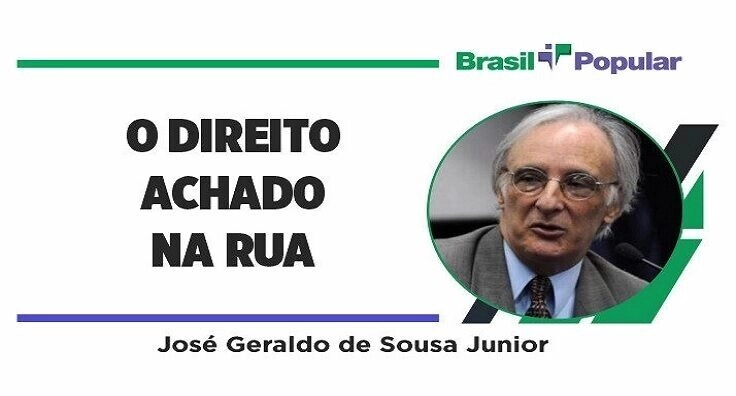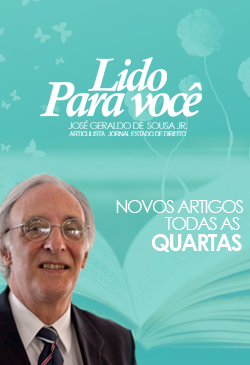Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
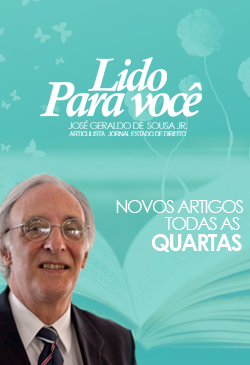
ReDiS – Revista de Direito Socioambiental (UEG). Publicação do Volume 3, Número 2 da ReDiS – Dossiê: Territorialidades e Conflitos Socioambientais.
https://www.revista.ueg.br/index.php/redis/pt_BR/index

A ReDiS – Revista de Direito Socioambiental (UEG), vinculada ao Curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás, é uma publicação acadêmica semestral, em fluxo contínuo, de acesso livre, que permite a publicação de artigos científicos, resenhas e entrevistas vinculadas aos seguintes eixos: a) Teoria, hermenêutica e judicialização dos Direitos Fundamentais; b) Políticas Públicas e Movimentos Sociais voltados à promoção de Direitos Humanos; c) Pesquisas empíricas e críticas em Direito Socioambiental.
Neste número – Volume 3, Número 2 (2025) – a peça central da edição é referente ao Dossiê Temático “Territorialidades e Conflitos Socioambientais”, já disponível para acesso no portal da revista. Esta edição especial reúne contribuições científicas que se dedicam à compreensão crítica dos múltiplos enfrentamentos em torno da terra, da água, dos bens naturais e das disputas territoriais no cenário contemporâneo brasileiro, ampliando o debate acadêmico sobre justiça socioambiental, direitos territoriais e as tensões nas relações entre comunidades, Estado e grandes empreendimentos econômicos.
Dossiê foi organizado pelos professores e professoras Liliane Pereira de Amorim, Karla Karoline Rodrigues Silva, Isabel Christina Gonçalves Oliveira e Giovana Nobre Carvalho e a edição ficou a cargo do professor Thiago Henrique Costa Silva. A capa registra em foto a Festa do Império Kalunga, Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga/GO, de autoria da fotógrafa Karen Eppinghaus (direitos autorais).
De acordo com o Editor, o Dossiê foi organizado com o propósito de coletar reflexões teóricas e empíricas que abordam a produção e reprodução de conflitos socioambientais a partir de perspectivas interdisciplinares, destacando a relevância de análises que considerem as diversas formas de vida, memórias coletivas, ancestralidade e as desigualdades estruturais presentes nas disputas por território e recursos naturais no Brasil contemporâneo. Um modo de reafirmar o compromisso da ReDiS com a difusão de pesquisas críticas e rigorosas em Direito Socioambiental, fortalecendo a interlocução entre saberes jurídicos, sociais e ambientais e promovendo o acesso aberto ao conhecimento científico de qualidade.
No Editorial os organizadores e organizadoras do Dossiê justificam o alcance pretendido pela publicação do número:
Aqui, fazemos um convite à reflexão sobre os resultados que são produzidos pelos conflitos socioambientais em nosso país e como essas consequências, extremamente danosas, nos afastam de adiar o fim do mundo.
Sabe-se que os conflitos socioambientais no Brasil refletem a estrutura histórica de desigualdade do país, na qual a terra virou o elemento central de disputa de poder. A complexidade desses embates reside no choque entre duas visões opostas sobre o que a terra representa: um bem essencial à vida e uma mercadoria a serviço do capital.
Do desencontro de perspectivas sobre o sentido de terra/território, surge a tensão entre territorialidades distintas e, consequentemente, a intersecção entre conflitos agrários, sociais e ambientais.
É nesse cenário que, grilagem de terras, concentração fundiária, expansão do agronegócio, atividades minerárias predatórias, entre outros modelos exploratórios, avançam sobre territórios tradicionais e rurais
A publicação está organizada conforme o Sumário a seguir, estando os textos acessíveis em português, inglês e espanhol:
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS. ENTRAVES PARA ADIAR O FIM DO MUNDO
Giovana Nobre Carvalho, Liliane Pereira de Amorim, Karla Karoline Rodrigues Silva, Isabel Christina Gonçalves Oliveira
Artigos – Dossiê Temático
TERRITÓRIO, ORGANIZAÇÃO E PODER. NOVOS PARADIGMAS ACERCA DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO
Caio Tácito Rodrigues Pereira, Lorena Veras Mendes
O MARCO LEGAL DO LÍTIO E DOS MINERAIS ESTRATÉGICOS NO BRASIL ENTRE AS IMPOSIÇÕES DO MERCADO ENERGÉTICO E O CONTROLE POPULAR
Tádzio Peters Coelho, Alice Grazielle Baru Santos
NOVA LEI DE AGROTÓXICOS E O CONSTITUCIONALISMO AMBIENTAL ABUSIVO NO BRASIL DO RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL AO CONSTITUCIONALISMO ECOLÓGICO
Eduardo Wallan Batista Moura
O ALCANCE DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL UMA ANÁLISE DA ADI 3239 PELO STF E DO CASO DAS COMUNIDADES DE ALCÂNTARA NA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
Leonardo Bortolozzo Rossi, Isabela Maria Valente Capato
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A ÁGUA. O QUE DIZEM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA – ES?
Patricia Ortiz Monteiro, Bruna Salvador de Souza Dalvi, André Felipe Costa Santos
COMISSÕES DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS E O PROCESSO ESTRUTURAL GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS CONFLITOS AGRÁRIOS COLETIVOS NO BRASIL
Ana Maria de Carvalho, Adegmar José Ferreira
A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL. NOVOS DESAFIOS JURÍDICOS FRENTE À GRILAGEM DIGITAL DE TERRAS
Julia Roberta Pereira Campos, Karla Karoline Rodrigues Silva
A DESTINAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS PARA OS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Maria Tereza Queiroz Carvalho
(DE)BOVINIZAÇÃO, (DE)SERRANIZAÇÃO E SOLIDARIEDADE NAS SIERRAS DE CÓRDOBA, ARGENTINA (2000-2020)
Joaquin Ulises Deon Favre, Nadia Alexandra Balmaceda
Artigos
A REPRESENTIVIDADE FEMININA EM CARGOS ELETIVOS E SEUS DESDOBRAMENTOS NA QUALIDADE DEMOCRÁTICA DO ESTADO DA BAHIA
Lavitta Almeida Brito, Ana Carolina Santana Gomes Vasconcelos, Ricardo Oliveira Rotondano
MULTIPARENTALIDADE E NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES, REFLEXÕES SOBRE AS DINÂMICAS E CONFLITOS PARENTAIS Á LUZ DA DOUTRINA CIVILISTA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA.
Laura Nunes dos Santos, Isabella Christina da Mota Bolfarini
Resenhas
RESENHA CRÍTICA DA OBRA 1964. VISÕES CRÍTICAS DO GOLPE – DEMOCRACIA E REFORMAS NO POPULISMO
Isabella Spindola Barbosa, Rodrigo Jurucê Mattos Gonçalves, Luciana de Souza Ramos
A IMPRESCINDIBILIDADE DA REGULAÇÃO JURÍDICA NO CAMPO PELO DIREITO AGRÁRIO CONTEMPORÂNEO – UMA ANÁLISE DA OBRA “A REGULAÇÃO DEMOCRÁTICA DO EXCEDENTE NO CAMPO
O AINDA INDISPENSÁVEL DIREITO AGRÁRIO” DE JOÃO PAULO DE FARIA SANTOS
Giovanna Maria dos Reis Ramos, Bárbara Luiza Ribeiro Rodrigues, Eduardo Gonçalves Rocha
A edição se completa com uma Entrevista, na qual pude, conduzido pelas agudas questões propostas Liliane Pereira de Amorim, fazer uma apresentação sobre O Direito Achado na Rua e sua relação com os conflitos sócioterritoriais.
Transcrevo a entrevista, que começa com uma orientação de como fazer sua citação JÚNIOR SOUSA, José Geraldo De; AMORIM, Liliane Pereira de. O direito achado na rua e sua relação com os conflitos sócioterritoriais. Entrevista. Revista de Direito Socioambiental – REDIS, Morrinhos, Brasil, v. 03, n. 02, jul./dez., 2025, p. XXI-XXX, além de uma breve biografia.
1 – Direito Achado na Rua e os Territórios dos Povos e Comunidades Tradicionais
Liliane Pereira de Amorim: professor, em seus escritos o senhor tem ressaltado a importância do pluralismo jurídico e da ideia de um “direito achado na rua”. Como esses referenciais ajudam a repensar o reconhecimento dos territórios de povos e comunidades tradicionais diante das tensões com a lógica dominante da propriedade privada e do desenvolvimento econômico?
José Geraldo de Sousa Júnior: pois bem, o direito achado na rua se apoia teoricamente na hipótese do pluralismo jurídico. Depois nós podemos ver se tiver ocasião, mais referências sobre a concepção do direito achado na rua. Mas a hipótese teórica com a qual ele se estabelece é a do pluralismo, que supõe que no mesmo espaço podem vigorar mais de uma ordem jurídica, que convivem, às vezes de modo cooperado, às vezes de modo competitivo, mas em geral operando trocas. Normalmente são trocas desiguais de juridicidade.
Mas que essa dimensão de territorialidade, que está na base do pluralismo, e que também enseja outras temporalidades, anima a dimensão intersistêmica de direitos. Por exemplo, agora mesmo, o Supremo Tribunal Federal, examinando a questão do marco legal na tese, agronegociante, incorporou a concepção dos povos originários de que o marco é ancestral, porque ele deriva de um outro sistema de direito, antropologicamente conferido como uma juridicidade que se inscreve em usos, em tradições, pré-estatais, pré-capitalistas, mas que geram uma juridicidade que é a base da legitimidade da sua posição, reivindicação. E ao decidir, o ministro Fachin, por exemplo, disse que a leitura tem que ser contra a posição desses dois sistemas. Porque o Estado produz direitos, mas é um direito legal, é um direito codificado, é um direito moderno em relação à temporalidade do direito ancestral.
E, portanto, ele não pode suprir e suprimir o direito já originário, que é anterior a ele. Então, aí é a dimensão do pluralismo jurídico, que tem uma configuração mais geral antropológica, porque são culturas muito distintas, mas no contemporâneo, às vezes, estão inseridas nas concomitâncias de muitas territorialidades. Por exemplo, um território quilombola está no urbano, está no rural, mas ele se move pela influência de uma outra forma de sociabilidade e de relação entre as pessoas e as coisas, as pessoas e elas. E, por exemplo, não existe aí um direito patrimonial. Porque esse direito é coletivo, por consideração da estratégia de sociabilidade que sobrevive na origem mesma do modo de conviver quilombola. Gerou até uma outra categoria que define isso, que é o aquilombamento, não é isso? Um pouco isso.
O pluralismo como concepção teórica surge ali pelo século XIX para o XX, quando o Estado começa a se formar. E é a tensão entre o jurídico que vai se instalar numa unidade de poder… político que se centraliza no que vai ser a forma do Estado, mas tem que lidar com um social que era carregado de juridicidades, fragmentadas, pluralizadas, né? E que era configurada na concepção de usos e tradições. Veja que o primeiro código civil brasileiro, quando entrou em vigor, no último artigo dele, diz que ele entrou em vigor revogando. Aí vêm as ordenações filipinas. mas ele completa revogando os costumes. Ou seja, um direito moderno, legal, burocrático, revogando um direito antigo e tradicional. Só que ele não é antigo, ele também continua a produzir efeitos, mesmo quando as temporalidades reterritorializam as vivências, os espaços e a ação política. Faz sentido isso?
Liliane Pereira de Amorim: O senhor destaca que os direitos humanos precisam ser lidos em chave socioambiental e não apenas individualista. Nesse sentido, como o senhor avalia a relação entre direitos territoriais de povos tradicionais e a luta por justiça socioambiental no Brasil contemporâneo?
José Geraldo de Sousa Júnior: Então, essa é uma configuração daquela hipótese do pluralismo, que atualiza, no político, tradições arraigadas nas práticas sociais. São práticas sociais que têm essa ancestralidade escrita no seu desenho de manifestação e que implica uma referência de usos. que organizam uma dada comunidade que, de certo modo, tem uma homogeneidade na sua reprodução. Se reproduz socialmente mantendo aquilo que a gente chama de condição de origem. Por isso que a gente diz povos originários, povos tradicionais. Não são boas as antigas, que eram colonizadas, colonizadoras: povos antigos, povos arcaicos, povos primitivos.
Há bem pouco tempo, inclusive, uma governança que, felizmente, agora já foi classificada como delinquente, usava para definir políticas públicas. Não vou demarcar um centímetro de território, não vou atender a gente preguiçosa que fica engordando como se fosse bicho, que nem reproduz mais porque tem muitas arrobas, não lembra dessas expressões?
Então, esses usos que são tradicionais geram uma concepção teórica de que isso é um sistema jurídico, um sistema de direito. E por isso mesmo isso requer que ele seja vivenciado como justiça a partir dos seus fundamentos. Isso explica, por exemplo, a Convenção 169, que é distinta da Convenção anterior, a 103, porque, no modelo da Convenção anterior, a modelagem supranacional e internacional ainda eram muito contidas no mecanismo da hegemonia liberal. Então ela via esses povos como povos que deveriam ser integrados, desaparecer, se diluir numa dimensão da sociedade. Mas. Como esses povos sempre reivindicaram autonomia, titularidade, isso interpelou também o sistema internacional, que passou a reconhecê-los. Então, a 169 reconhece a sua autonomia, né?
Então, são povos com autonomia? Que têm usos próprios. Não é que eles sejam atrasados. E por isso que esses sistemas apontaram para um núcleo de equidade que representasse, considerasse autonomia? Que foi conquistada em processos políticos, não é? No sentido de que o fundamento, inclusive, de justiça que está inscrito nisso, seja algo construído por sua autonomia. Por isso que a 169 pressupõe a justiça socioambiental, porque esses valores de consideração da natureza procedem de uma mentalidade, de um modo de vida em que não existe separação entre as identidades humanas. Tudo é humanidade. Os animais são humanidades. A natureza é humanidade. Ela, como tal, é mãe, ela nutre, ela é vida, não é coisa.
A relação é de pertencimento, não é? Você não explora: ela não é recurso, não é insumo; ela é nutriente da sua vida. Pelo ambiente, pela generosidade do que ela oferece como abrigo, alimentação. Vida vivida, bem vivida.
Olha essas categorias que surgem daí: bem viver, mãe natureza, Pachamama, isso para os andinos. Então, a Convenção 169, por exemplo, diz que nas relações de justiça tem que levar em conta esses fatores equivalentes e que tem que ser dialogados do ponto de vista do acerto de entendimento. Entre culturas distintas, geradas por concepções também distintas de mundo, quando se trata de compartilhar uma vida em comum, um patrimônio em comum. Então, por isso, a ideia de que quando há essa relação, no caso dos povos originários e tradicionais, tem que consultá-los, eles têm que conhecer a realidade, eles têm que estar bem formados, não é isso? E eles têm que ser respeitados na sua autonomia, têm que ser livres na sua manifestação, que é o que caracteriza, por exemplo, o mecanismo de justiça socioambiental, e não só socioambiental, mas naturalmente socioambiental, porque são povos que estão inseridos ainda na vida natural, no campo.
Uma vida que, como diz o Ailton Krenak, não é utilidade, é existência. A vida não é útil. A vida é expansão da felicidade, do bem viver. Então, por exemplo, o que os povos estão fazendo hoje como mecanismo fundante, a norma fundamental desses povos é a consulta livre informada. Prévia, né? E que tem sido violada, sim. Que tem sido, mas ela já está dentro do horizonte, então ela é causa de discussão? Sim. E ela é violada, mas ela é reparada? Nos limites da engrenagem que move o mundo e que às vezes mói as pessoas? Sim. Mas a gente aprende e se transforma também nesse processo.
2 – O Direito Achado na Rua: Uma abordagem Emancipatória para as Universidades e para o Reconhecimento dos Direitos Territoriais
Liliane Pereira de Amorin: Em diversos textos, o senhor aborda a necessidade de construção de um direito emancipatório, enraizado nas práticas sociais e culturais dos povos. Quais caminhos enxerga para que a universidade, a pesquisa e as práticas jurídicas possam contribuir efetivamente para a resistência e reexistência de comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais?
José Geraldo de Sousa Júnior: No plano mais geral e no plano mais conceitual, eu, claro, tenho as minhas referências político-epistemológicas. Então, a gente não pensa a universidade como uma abstração, pensa a universidade no espaço social que tem uma origem colonial.
Então, eu penso, do ponto de vista epistemológico, com categorias de decolonialidade. No campo em que você mencionou, pensando, por exemplo, no intelectual desse campo, o Nêgo Bispo, que é mais que decolonial, é contracolonial. Então, eu acho que, por exemplo, pensar a universidade é fundá-la sob a perspectiva de que ela tem que ser uma universidade que emancipe, que abra espaço, por exemplo, para o processo de decolonialidade ou de contracolonialidade. Então, o primeiro ponto, abreviando muito, é descolonizar os currículos.
Porque como as universidades, mesmo no experimento colonial, foram criadas como aplicação de conhecimentos e de saberes hegemônicos do colonizador, não é isso? Elas se instituíram epistemologicamente com a agenda pedagógica da… justificação da colonização, não é isso? Por exemplo, debater se índigena era gente ou não, se indígena em geral, de qualquer continente. O alienígena construiu uma leitura acadêmica que justificou, por exemplo, negar o outro no sujeito subalternizado. Então, você poder construir uma referência como essa, na universidade: a coisa epistemológica a fazer é descolonizar o currículo, as práticas pedagógicas. Claro que não precisa aplicar na universidade a modelagem educadora, por exemplo, de um quilombo ou de uma aldeia. Mas pode, no diálogo entre os saberes, instituir práticas pedagógicas que representem o diálogo entre as tradições, entre os saberes.
Acho que, entre nós, quem melhor trabalhou isso foi Paulo Freire, por exemplo. Então, um segundo momento é saber que, como a colonialidade implicou segregações, hierarquias, discriminações, subalternizações… E, no experimento colonial, não precisa ser um pensador que se inscreva nessa agenda da libertação, ou teologicamente falando, ou filosoficamente, ou sociologicamente. Não precisa ter essa pegada, mas qualquer um com o mínimo de acuidade intelectual é ver que o colonialismo entre nós se deu porque ele foi racial, porque ele foi patriarcal, porque ele foi capitalista.
Então, as estruturas de conhecimento justificando as hegemonias são racistas, misóginas, machistas. Estamos falando no dia 13, no dia 11 agora, a gente ouviu o voto da ministra Carmen Lúcia no Supremo. Não se contendo, nem na forma, nem no conteúdo, em revelar o quanto isso alcança, inclusive uma ministra da Suprema, que seja mulher. E olha que nem negra é ou indígena, mas mesmo assim ela sofre o que todos sofrem quando são subalternizados. E ela é capitalista, porque é a condição de classe.
Alienou o humano desse processo. Para poder inseri-lo na produção, teve que desumanizá-lo, para escravizá-lo, para, mesmo no contexto atual, precarizá-lo. Hoje, plataformizá-lo. Então, é preciso que a universidade, por exemplo, reveja suas formas de recepção, de acesso, de ingresso.
As políticas afirmativas cumpriram um pouco esse papel, não é isso? Mas como abriu para que entrem por cotas negros, indígenas, quilombolas, travestis, deficientes físicos? Abriu os currículos? Não. A gente tem visto na universidade desconforto dessas comunidades novas em face das discriminações que sobram por suas cosmologias, por suas leituras do econômico, pela subordinação dos saberes. Mas como isso é político, a gente tem visto também uma ação emancipatória nesse campo. Então, as universidades, por exemplo, se abriram para as lutas da educação nos quilombos.
Vocês são de Goiás, ali é a origem do Pronera, onde você teve a educação do campo, a educação superior no campo, as turmas especiais para assentados da reforma agrária. E li esses dias que o MEC e a universidade estão se reunindo para criar uma universidade indígena. Não é formar um gueto, é criar uma baliza institucional, como no passado, por exemplo, na Europa, Humboldt criou uma universidade para o desenvolvimento tecnológico do moderno, não é isso? Por que eles podem e aqui não, não é isso? Então, eu acho que uma coisa é isso e a outra é inserir a formação não apenas na abstração diletante, elegante, mas criar mediações de formação que envolvam esse diálogo.
Na universidade esse processo é favorecido pela extensão, mas não deve se guetificar na extensão, ele tem que entrar na pesquisa. Por isso que no campo da pós-graduação a gente tem visto uma enorme contribuição, a partir de outros horizontes de estudos, sobre realidades que sempre foram marginalizadas, foram excluídas porque não estão no cânone do paradigma de formação. Então, eu acho que as formas hoje de construir mediações universitárias que integrem realmente ensino, pesquisa e extensão, incide nas políticas universitárias, nas políticas sociais.
Por exemplo, o Sistema Único de Saúde desenvolveu, por lei, por regulação, uma forma de educação popular para o SUS. Os princípios que a norma estabelece da educação popular no SUS, que pressupõe uma sociedade que se emancipe, democrática, participativa, tanto que a norma diz assim, que tem que valorizar no que caracteriza o SUS, além da universalidade e da equidade, a deliberação participativa e o controle social no sistema. Mas a educação está colocada em alguns pilares. Que pilares são esses? Não é a educação bancária, que é problematizada. Pilar como diálogo. Pilar como troca de saberes. Pilar como amorosidade. Olha, o bem-viver é isso aí, né? A amorosidade como uma categoria da política inscrita numa regulação jurídica de um sistema público.
Eu acho que a universidade, por exemplo, tem que se abrir também a isso. E a gente já vê, por exemplo, na minha universidade, que é a Universidade de Brasília. A gente tem um intensíssimo programa inscrito numa disposição estatutária de que a função da universidade é a defesa do meio ambiente e a realização dos direitos humanos. E aí ela criou um sistema de apoio programático para todas essas dimensões. Tem um campo de pós-graduação em sustentabilidade, mas tem também um campo de pós-graduação em direitos humanos. E a estrutura da universidade criou uma forma gestora única no Brasil de que no conselho universitário há uma Câmara de Direitos Humanos.
Ou seja, que a educação é emancipadora. Claro que a UNB tem o projeto de Darcy, de uma universidade que se liga ao social. Mas para ser emancipatória, ela precisa ser crítica. Então ela tem que ser autorreflexiva. E esses mediadores são os interpelantes. Discutir a sustentabilidade é discutir o paradigma, economia do consumo, não é isso? Mas da economia que se politize, que seja como diz Amartya Sen, fundamento para o desenvolvimento como liberdade, não é isso? Então, eu acho isso. O que você acha?
Liliane Pereira de Amorim: Professor, à luz da perspectiva de O Direito Achado na Rua, quais instrumentos podem ser utilizados para que as reivindicações dos movimentos sociais de luta pela terra se convertam em reconhecimento formal do direito à terra, destacando seus integrantes como sujeitos coletivos de direito?
José Geraldo de Sousa Júnior: A pergunta já contém a minha resposta, porque recuperando, o direito de achado na rua se estrutura epistemologicamente. Claro que ele tem uma referência no político, não é isso? Pensar a transformação da sociedade no sentido da emancipação.
Direito como liberdade, não como regra. A regra pode carregar apropriações possessivas da regulação. Até o crime organizado estabelece regras, mas isso não é direito, porque não supera aquilo que é a emancipação, que é vencer opressões e espoliações. Então, o Direito achado na rua se constitui no fundamento de que o direito não é norma, é liberdade, que se realiza por normas e que, portanto, lê a regra se ela transporta processos emancipatórios. Então, para fazer isso, o direito achado na rua se articula epistemológica e metodologicamente em três principais mediações.
Uma delas é a do espaço. Em que sociabilidades nos fixamos quando ela atua territorialmente, o espaço. Por isso que o direito achado na rua, é uma metáfora. Metáfora do espaço. E nos trabalhos a gente tem direito achado na rua, no campo, nas águas encruzilhadas, na floresta. Na noite, na noite há uma dissertação que é o direito achado na noite.
Pensando a noite não como um fenômeno atmosférico, o cósmico, a rotação da terra, mas a noite como um espaço de produção da cultura, da arte, da economia. E aí, por exemplo, a noite virou um espaço. Mas aí qual é o outro elemento que a gente trabalha? O protagonismo. Não é o imaginário que remuda o mundo, são sujeitos que atuam, são protagonistas. Então, por mais forte que seja a capacidade de um sujeito individualizado, ela tem um limite. Claro que, por exemplo, se eu sinto fome, eu tenho um impulso biológico de me nutrir.
Se o presidente Lula sente fome, ele cria um pacto global contra a fome. Isso tem essa nuance. Mas, no geral, o que muda o mundo é capacidade ativa e coletiva dos sujeitos que se congregam num compromisso que ele projeta como ação que o move em direção ao processo de transformação. Que sujeito é esse? Não pode ser um sujeito individual, tem que ser um sujeito coletivo.
Então, onde é que se instalam os sujeitos coletivos? Se instalam no que no social se mobiliza, se movimenta. Se instalam no que a gente tem chamado de movimentos sociais, não é isso? Então, nos movimentos sociais que se movem para atuar na realidade e transformá-la, né? O Marx dizia assim: não basta interpretar o mundo, tem que transformálo, não é isso? Na práxis, portanto, onde um sujeito coletivo se instala. A gente tem que ver que sujeito coletivo é esse. Por exemplo, nesse caso da noite, o pesquisador identificou como sujeito um movimento que se criou para traduzir contra uma pretensão imobiliária de criar na Câmara uma lei de silêncio que afetava os espaços de cultura. Eles criaram um movimento que se chamava “Quem desligou o som”.
E sua representação, seus porta-vozes passaram a negociar com a edilidade para construir mediações, inclusive legislativas, que compusessem os interesses dos imobiliários que querem vender sereno, tranquilidade, conforto, segurança para vender imóveis. Com aqueles que querem fazer festa, celebrar, fazer sarau, recitar poesia e contribuir com a alegria e a felicidade. Então, a gente estuda o espaço, a gente estuda o sujeito, e o sujeito é o sujeito coletivo de direito, então a gente tem muitas pesquisas nesse campo. Mas tudo bem, para produzir o quê?
São os achados. Esses achados são o que os temas de estudo vão desenvolver. Muitos desses achados, por conta da descolonização, por conta das políticas, vêm nas novas pautas, nas novas agendas, que aqueles que emancipatoriamente passaram a integrar na universidade, e começaram a trazer para interpelar os programas acadêmicos. Então, pelo que, na sua concepção, o direito achado na rua, que é uma linha de pesquisa, que é um diretório de pesquisa, um grupo de pesquisa do diretório do CNPQ, que recebe candidaturas para mestrado, para doutorado e tal. Começou a ter um acervo enorme de dissertações e teses.
E do que tratam essas teses? Tratam do aldeamento do direito, tratam do aquilombamento do jurídico, não é? Não o direito positivo, legal, estatal, apenas criticamente falando, mas um direito que surge das próprias condições de, por exemplo, o que é o extrativismo vegetal. Foi aqui, na UnB, que Chico Mendes desenvolveu, apresentou a tese.
Foi na UnB que ele apresentou a tese quando reuniu os seringueiros num congresso e trouxe o conceito de reserva extrativista de florestania, que já é o diálogo dos povos da floresta.
3 – Encerramento:
Liliane Pereira Amorim: Professor, suas falas, como sempre são muito provocativas. Temos muito a pensar. Foi uma honra entrevistá-lo. O senhor é uma grande referência no direito brasileiro. É um dos pilares da UnB. Sua contribuição para a ciência é transformadora, é inspiradora, é democrática e inclusiva. Sem dúvidas esta entrevista contribuirá para os “achados” de muitas pesquisas.