Direitos Humanos em Matéria Prisional no Brasil, Peru e Venezuela: Advocacy e Incidências dos Movimentos Sociais Perante a Corte IDH
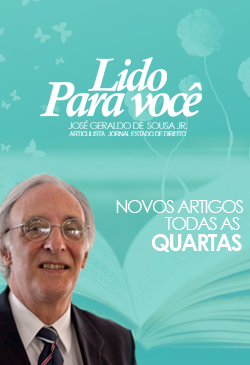
Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
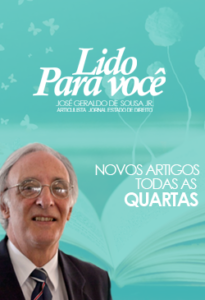
Roseli Cândido. Direitos Humanos em Matéria Prisional no Brasil, Peru e Venezuela: Advocacy e Incidências dos Movimentos Sociais Perante a Corte IDH. Dissertação de mestrado defendida e aprovada no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania (UnB), Brasília, 2025, 107 fls.
Integrei a banca examinadora formada pelas professoras Fernanda Natasha Bravo Cruz, Orientadora e Valdirene Daufemback, membro externo. Valdirene foi Ouvidora Nacional de Serviços Penais e Diretora de Políticas Penitenciárias da Secretaria Nacional de Políticas Penais vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; também Perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e integra o Laboratório de Gestão de Políticas Penais do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da UnB (ao qual também se vincula a professora orientadora) e é Coordenadora Geral do Programa Fazendo Justiça, uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
A defesa se faz num momento que me pareceu oportuno, conforme artigo que acabei de publicar na Coluna O Direito Achado na Rua, no Jornal Brasil Popular – https://brasilpopular.com/a-importancia-e-a-urgencia-de-o-brasil-ter-protagonismo-no-sistema-interamericano-de-direitos-humanos/.
A oportunidade vem, eu o disse na abertura do artigo, do fato de estar na mesa do Presidente da República para avaliação, já com candidaturas escrutinadas pelos ministros dos Direitos Humanos, da Advocacia Geral da União e das Relações Exteriores (MRE), nomes para serem indicados a uma das vagas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que estarão em disputa na próxima Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Por isso, eu continuei no artigo, mais que nunca se faz necessária a qualificação da representação do Brasil na CIDH, não só pela densidade da agenda complexa e incidente em vários campos que afetam o país, violência, passando pelos sistemas de garantia de direitos de povos originários e tradicionais, situação carcerária, liberdade de expressão e de consciência, até alcançar o campo crítico da educação e de garantia da liberdade de ensino e de cátedra; mas com alcance sistêmico, desde que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), tem como objetivo promover e proteger os direitos humanos nas Américas.
Ali como que ensaiei sugerir um perfil apto a potencializar o desempenho de um membro plenipotenciário na CIDH, apto a conferir os desafios que se colocam para um sistema de proteção aos direitos humanos, nacional e internacionalmente: “Certamente, entre os nomes colocados à avaliação do Presidente da República, todos e todas devem caber no desenho de um perfil ao mesmo tempo acadêmico apto à compreensão paradigmática de temas e de pressupostos epistemológicos compreensivos. Institucionalmente experientes para operar o trânsito entre políticas glocais, simultaneamente locais e globais, nos seus estandares e protocolos (pense-se nos protocolos em construção nos países das regiões para mediar projetos de desenvolvimento que devam ser submetidos a consultas livres, informadas e autônomas, quando se trate de expectativas de caráter econômico em face de direitos de povos originários, tradicionais ou tribais (Convenção 169 da OIT). Internacionalmente reconhecidos para o diálogo intersistêmico entre pretensões de alta densidade política, sensíveis aos níveis correntes de dissensos inclusive ideológicos”.
Claro que nesse perfil cabe necessariamente, na atualidade, a disposição resiliente para concertar parcerias com organizações da sociedade civil, como ação educadora para construir políticas formadoras e garantes de direitos e de melhoria do tratamento penal, educação nas prisões e na execução reabilitadora da função prisional.
É nessa disposição que se dá a incidência dos movimentos sociais perante as cortes internacionais de direitos humanos, notadamente pelas práticas de advocacy e do exercício de litigância estratégica para a proteção e a defesa de direitos humanos. Esse o tema da dissertação objeto deste Lido para Você.
Com efeito, a dissertação que acaba de ser defendida e aprovada no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UnB (CEAM), em bem elaborado trabalho de autoria de Roseli Cândido, trata desse tema. Conforme seu resumo:
Esta dissertação analisa as práticas de advocacy desenvolvidas pelos movimentos sociais perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), em defesa dos direitos humanos no contexto prisional, com foco no Brasil, Peru e Venezuela. O estudo é fundamentado na Teoria Crítica dos Direitos Humanos e examina as formas de organização das redes transnacionais de advocacy desses movimentos sociais, que atuam além das fronteiras nacionais, promovendo ações que resultam em mudanças com o efeito bumerangue: deslocando-se do local ao transnacional e retornando ao local. Essa dinâmica foi observada por meio da análise das práticas utilizadas para a denúncia e o acompanhamento de casos de violação de direitos humanos no contexto prisional nos três países. A perspectiva interdisciplinar desta pesquisa é fundamentada pela Teoria Crítica dos Direitos Humanos e considera ainda os estudos da sociologia política sobre redes de movimentos sociais e redes transnacionais de advocacy. Na análise, foram revisados documentos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), como relatórios e informes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), além das recomendações e sentenças da Corte IDH. Em especial, a análise das práticas de advocacy adotadas pelas ONGs foi realizada por meio de entrevistas em profundidade, com entrevistados indicados pelas organizações da sociedade civil estudadas: Justiça Global (caso brasileiro), Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reprodutivos (caso peruano) e Una Ventana a la Libertad (caso venezuelano). Foi realizado o estudo de casos múltiplos. Para maior fluidez do estudo e análise comparada, foram escolhidos casos de três países diferentes: Caso Complexo Penitenciário de Curado (Brasil), Caso Azul Rojas Marín (Peru) e Caso do Centro Penitenciário da Região da Capital Yare I e Yare II (Venezuela), todos denunciados por movimentos sociais. Observou-se que as organizações peticionárias eram especialistas nas áreas dos direitos defendidos em cada caso e se articularam com ONGs locais e, no caso brasileiro e peruano, também com ONGs estrangeiras, para que a denúncia apresentasse a consistência necessária e alcançasse o objetivo pretendido: mobilizar o SIDH e fazer com que a Corte IDH apreciasse os casos e determinasse que os Estados transgressores efetuassem as reparações das violações perpetradas. As recomendações foram cumpridas de forma parcial pelo Brasil e Peru. No caso venezuelano, não houve resposta do Estado, mas, assim como os outros dois, o caso alcançou repercussão internacional por meio da denúncia e das decisões da Corte IDH.
O texto da dissertação, conforme explicita a Autora, está estruturado em cinco capítulos. Em seguida à introdução, com a discussão da importância da temática, da sua relevância e dos motivos para a escolha do estudo, um segundo capítulo, trata da situação de sistemas prisionais da América Latina, especificamente do Brasil, Peru e Venezuela. A análise procura demonstrar como ocorreu a transição para o sistema punitivo baseado na privação de liberdade, até sua deterioração atualmente.
O terceiro capítulo aborda os movimentos sociais, sua correlação com os direitos humanos, o processo de formação das redes e as práticas de advocacy na arena transnacional. O quarto capítulo apresenta a metodologia adotada para a elaboração do estudo, os métodos utilizados para a escolha dos casos, para a coleta de dados e para a análise e interpretação dos resultados obtidos por meio das entrevistas em profundidade.
O quinto capítulo mostra os resultados da pesquisa, com o estudo pormenorizado dos casos do Brasil, Peru e Venezuela, a interpretação e análise de conteúdo das entrevistas, a identificação das práticas de advocacy adotadas por cada organização da sociedade civil para incidência perante a Corte IDH, o processo de formação de redes de movimentos sociais e, em seguida, apresentam-se as considerações finais da investigação.
Nessas considerações a Autora sustenta ter a pesquisa cumprido seu propósito de originalidade ao analisar a problemática do sistema prisional latino-americano por meio de uma abordagem interdisciplinar, que não se limitou a examinar as falhas do sistema ou a questões relacionadas ao direito e ao controle de convencionalidade (quando decisões de organismos internacionais são incorporadas ao direito interno).
Para a Autora:
A maior parte da pesquisa foi dedicada a compreender o trabalho das organizações da sociedade civil na busca pela garantia dos direitos da população carcerária historicamente marginalizada. Quando esses direitos não são efetivados pelos Estados nacionais, as ONGs se articulam para promover o debate internacional, pressionando os governos para que tais direitos sejam implementados, gerando o efeito que a literatura denomina de padrão bumerangue.
Os objetivos foram alcançados, uma vez que foi possível identificar como as ONGs se articularam para construir alianças e fundamentar de forma sólida os argumentos que levaram o SIDH a receber as denúncias e a Corte IDH a julgar os casos. Foram apresentados os resultados e demonstrado como as ONGs monitoram os casos, mantendo a Corte IDH informada sobre as ações dos Estados. Da mesma forma, o estudo de casos múltiplos possibilitou a aprendizagem sobre as situações de três Estados diferentes, que, embora compartilhem características semelhantes no que tange à negligência na efetivação dos direitos humanos de pessoas privadas de liberdade, apresentam níveis distintos de participação política democrática, formulação de políticas públicas e aprovação de leis humanísticas. Observou-se que, apesar da enorme população carcerária, o Brasil está mais avançado do que os demais nas respostas ao caso do complexo curado, enquanto a Venezuela apresenta o cenário mais crítico.
Por fim, permanece em aberto para pesquisas futuras a questão de saber se, ao longo dos anos, haverá uma melhor atuação dos diversos atores institucionais sobre as violações denunciadas pelas ONGs e se os referenciais internacionais em direitos humanos serão respeitados de forma mais consistente na região latino-americana.
Embora não figure na bibliografia da dissertação, penso que os resultados alcançados por Roseli Cândido, coincidem no que toca à incidência dos movimentos sociais, percebidos na dissertação no sentido protagonista que lhe atribui O Direito Achado na Rua, cuja concepção e prática são adotados pela Autora, tal como orienta Raquel Yrigoyen Fajardo, advogada e especialista em direitos humanos peruana, autora do livro “Litigio Estratégico en Derechos Humanos” (Edição: 1ª ed. Lima-Peru: Editora: Instituto de Defensa Legal, 2005, ISBN: 9972-623-09-5).
O livro aborda a estratégia de litigio em direitos humanos, apresentando uma abordagem prática e teórica para advogados, ativistas e estudantes de direito que trabalham na área de direitos humanos.
A autora, que dirige o Instituto Internacional Derecho y Sociedad, aliás, parceiro do PPGDH em programas de formação e de intercâmbio, compartilha sua experiência como advogada de direitos humanos, apresentando casos concretos e estratégias de litigio que podem ser aplicadas em diferentes contextos. Ela faz do livro uma ferramenta valiosa para qualquer pessoa que trabalhe na área de direitos humanos e busque uma abordagem estratégica e eficaz para litigio.
Também coincide, ainda que não citada (na sabatina a Autora afirmou conhecer o trabalho), por Luciana Garcia, também advogada e especialista em litigio estratégico brasileira. Luciana Garcia é autora do livro “Litigio Estratégico: Uma Abordagem Prática para Advogados e Activistas” (2018), que é uma referência importante para advogados e ativistas que trabalham com direitos humanos e justiça social.
O livro aborda a teoria e a prática do litigio estratégico, apresentando casos concretos e estratégias de litigio que podem ser aplicadas em diferentes contextos. A autora também destaca a importância da articulação entre advogados, ativistas e comunidades afetadas para alcançar resultados eficazes.
Acresce que Luciana Garcia também é coordenadora do curso de Litigio Estratégico da Escola de Direitos Humanos e Cidadania (EDHC), que é uma organização não governamental que busca promover a educação em direitos humanos e justiça social. E, além disso, Luciana Garcia é membro da Rede de Litigio Estratégico (RLE), que é uma rede de advogados e ativistas que trabalham com direitos humanos e justiça social em diferentes partes do Brasil.
A atuação de Luciana Garcia no campo do litigio estratégico é amplamente reconhecida e respeitada no Brasil e em outros países. Ela é considerada uma referência importante para advogados e ativistas que buscam promover a justiça social e os direitos humanos.
Luciana Garcia se destacou em vários casos importantes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), não necessariamente inscritos na atuação incidente sobre sistemas prisionais, mas valiosos para configurar o arcabouço teórico-prático do modelo de incidência estudado pela Autora da dissertação:
– Caso Maria Joel da Costa: Este caso envolveu uma defensora de direitos humanos protegida pelo Estado brasileiro. Luciana Garcia trabalhou neste caso, que foi citado em um estudo sobre as relações entre o Poder Executivo e o sistema de justiça ¹.
– Caso Sétimo Garibaldi versus Brasil: Outro caso em que Luciana Garcia se destacou, que também foi mencionado no mesmo estudo ¹.
– Casos de graves violações de direitos humanos: Luciana Garcia também trabalhou em casos que envolviam graves violações de direitos humanos, incluindo a relação entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Ministério Público.
Tal como Roseli, Luciana aproveitou sua experiência para coligir importantes achados que puderam ser por ela ser sistematizados em seus estudos avançados no doutoramento que realizou na UnB, sobre o tema, sob a orientação da professora Eneá de Stutz e Almeida, conforme http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/23927:
Referência: GARCIA, Luciana Silva. “Eles estão surdos”: relações entre o Poder Executivo e o sistema de justiça sobre graves violações de Direitos Humanos. 2017. 449 f., il. Tese (Doutorado em Direito)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
Resumo: A tese tem como ponto central a análise da relação entre o Poder Executivo e o Sistema de Justiça sobre graves violações de Direitos Humanos e procura responder à seguinte pergunta: como se dá a relação entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Ministério Público quando há graves violações de direitos que tais instituições são responsáveis por proteger as vítimas, reparar e/ou restaurar direitos, dentro de suas competências e atribuições? Por que a relação ocorre da forma descrita? Foram consideradas as realidades de graves violações de Direitos Humanos relacionadas ao Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e a casos contra o Estado brasileiro em trâmite no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. A metodologia utilizada para responder à pergunta foi a pesquisa qualitativa, com a utilização das estratégias de estudo de caso e teorização fundamentada nos dados. O estudo foi realizado sobre o caso Maria Joel da Costa, defensora de Direitos Humanos protegida pelo Estado brasileiro, e o caso Sétimo Garibaldi versus Brasil, com sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir desses casos, foram construídas unidades de análise para analisar como se dá e por que se dá da forma descrita a relação entre Poder Executivo e Sistema de Justiça. Ao final, proponho elementos para um conceito de diálogo entre poderes que considere a centralidade da vítima e a importância da participação social para enfrentamento a graves violações de Direitos Humanos.
Para a Autora, “a maior parte da pesquisa foi dedicada a compreender o trabalho das organizações da sociedade civil na busca pela garantia dos direitos da população carcerária historicamente marginalizada. Quando esses direitos não são efetivados pelos Estados nacionais, as ONGs se articulam para promover o debate internacional, pressionando os governos para que tais direitos sejam implementados, gerando o efeito que a literatura denomina de padrão bumerangue”.
Com efeito, nas considerações finais ela afirma convicta:
Os objetivos foram alcançados, uma vez que foi possível identificar como as ONGs se articularam para construir alianças e fundamentar de forma sólida os argumentos que levaram o SIDH a receber as denúncias e a Corte IDH a julgar os casos. Foram apresentados os resultados e demonstrado como as ONGs monitoram os casos, mantendo a Corte IDH informada sobre as ações dos Estados. Da mesma forma, o estudo de casos múltiplos possibilitou a aprendizagem sobre as situações de três Estados diferentes, que, embora compartilhem características semelhantes no que tange à negligência na efetivação dos direitos humanos de pessoas privadas de liberdade, apresentam níveis distintos de participação política democrática, formulação de políticas públicas e aprovação de leis humanísticas. Observou-se que, apesar da enorme população carcerária, o Brasil está mais avançado do que os demais nas respostas ao caso do complexo curado, enquanto a Venezuela apresenta o cenário mais crítico.
Por fim, permanece em aberto para pesquisas futuras a questão de saber se, ao longo dos anos, haverá uma melhor atuação dos diversos atores institucionais sobre as violações denunciadas pelas ONGs e se os referenciais internacionais em direitos humanos serão respeitados de forma mais consistente na região latino-americana.
Aí é se difundiu o que na dissertação Roseli denomina “Padrão Bumerangue” é um conceito que deriva do litigio estratégico em direitos humanos e se refere a uma estratégia de advocacy que busca influenciar a política pública e a tomada de decisões em nível nacional por meio da mobilização de pressão internacional.
Aliás, o termo “Bumerangue” foi utilizado por Luciana García, em seu livro “Litigio Estratégico em Direitos Humanos” (2018), com a ideia central de que as organizações de direitos humanos e os ativistas possam utilizar mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) ou o Comitê de Direitos Humanos da ONU, para pressionar os governos nacionais a cumprir com suas obrigações em matéria de direitos humanos.
O Padrão Bumerangue é uma estratégia poderosa para promover a proteção dos direitos humanos em nível nacional, pois permite que as organizações de direitos humanos e os ativistas mobilizem pressão internacional para influenciar a política pública e a tomada de decisões em nível nacional.
Um vetor que está presente no trabalho de Roseli sobre valorizar etapas que amplificam sua incidência estratégica, na medida em que amplia a possibilidade de identificação de violações de direitos humanos em nível nacional; busca soluções em nível nacional, por meio de processos judiciais ou administrativos, para inibir tais violações; abre caminhos para o recurso aos sistemas internacionais de proteção e leva à utilização da pressão internacional gerada pelo mecanismo internacional para influenciar a política pública e a tomada de decisões em nível nacional.
Em suma, tal como sustenta a Autora na dissertação, o Padrão Bumerangue é uma estratégia poderosa para promover a proteção dos direitos humanos em nível nacional, pois permite que as organizações de direitos humanos e os ativistas mobilizem pressão internacional para influenciar a política pública e a tomada de decisões em nível nacional.

 Foto Valter Campanato
Foto Valter Campanato