A Política do Esquecimento: os Limites do Tolerável e a Resposta aos Ataques do 8 de Janeiro

Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
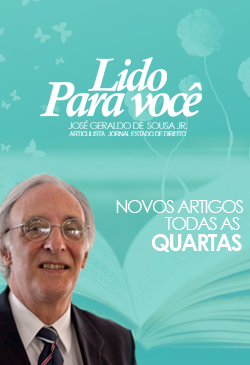
Mayara Rodrigues de Sousa. A Política do Esquecimento: os Limites do Tolerável e a Resposta aos Ataques do 8 de Janeiro. Monografia apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Brasília: 2025, 99 fls.
Compuseram a Banca Examinadora a Professora Orientadora Eneá de Stutz e Almeida Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília – PPGD/UnB, Conselheira da Comissão de Anistia, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, ex-Presidenta da Comissão e o professor e professora Guilherme Gomes Vieira e Lívia Gimenes Dias da Fonseca. Também integrei a Banca.
O estudo, conforme seu resumo, examina as disputas em torno da memória coletiva como fator central para compreender os dilemas da identidade democrática brasileira contemporânea. Partindo do pressuposto de que o Estado Democrático de Direito impõe à sociedade o dever de memória, a pesquisa analisa como Judiciário e Legislativo atuam – ora como guardiões, ora como agentes de silenciamento – frente a episódios de ruptura democrática, com ênfase nas respostas institucionais aos ataques de 8 de janeiro de 2023 e aos debates sobre anistia política. O trabalho articula referenciais teóricos como Halbwachs, Ricoeur, Popper e, especialmente, as contribuições de Eneá de Stutz e Almeida, para problematizar a anistia enquanto tecnologia jurídica de esquecimento e suas consequências para os processos de justiça de transição e reparação histórica. A investigação privilegia a análise dos desdobramentos recentes da crise democrática iniciada em 2013, considerando tanto o uso político da anistia no contexto brasileiro quanto as limitações institucionais resultantes de uma transição democrática incompleta. O estudo demonstra que, embora a anistia possa ser mobilizada como instrumento de pacificação, ela frequentemente opera como mecanismo de impunidade, bloqueando a reparação e aprofundando as fissuras do regime democrático. Ressalta-se o papel de iniciativas coletivas, como o movimento O Direito Achado na Rua, que tensionam o discurso institucional ao trazer para o centro do debate vozes e memórias historicamente marginalizadas. Por fim, defende-se que o embate entre memória e esquecimento não se limita à produção normativa, mas atravessa lutas sociais e culturais, exigindo o engajamento da sociedade civil na construção de narrativas plurais e no enfrentamento dos riscos de erosão democrática. O estudo conclui pela necessidade de afirmar a memória como condição para uma democracia substantiva e para a efetivação do direito à verdade, justiça e reparação.

E a abrangência da abordagem pode ser aferida do Sumário que a organiza:
1.INTRODUÇÃO
- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A intencionalidade da memória e a seleção da
2.2 O poder simbólico do espaço institucional como campo de disputa
2.3 O Judiciário como produtor de memória
2.4 O Legislativo como operador da memória
- A ANISTIA COMO TECNOLOGIA JURÍDICA DE ESQUECIMENTO
3.1 Perdão e Reconciliação
3.2 A transição brasileira e o desafio de reconciliar-se consigo mesmo
3.3 A anistia como instituto jurídico
3.4 A natureza jurídica da anistia política
3.5 Jurisprudência internacional: limites normativos e desafios interpretativos
3.6 Incompatibilidade de leis de esquecimento com o Estado Democrático de Direito
- O PARADOXO DA TOLERÂNCIA
4.1 Democracia em suspensão: da transição inconclusa ao risco do apagamento institucional
4.2 O bolsonarismo como sintoma e catalisador da erosão democrática
4.3 Erupção dos ataques do 8 de janeiro: a anatomia da crise representativa
4.4 A investigação institucional dos atos antidemocráticos
- AS RESPOSTAS INSTITUCIONAIS AO ATAQUE DE 8 DE JANEIRO DE 2023
5.1 PET 12.100 – O papel do Judiciário na resposta democrática
5.2 O rito processual no STF e a aplicação da Lei 14.197/2021
5.3 A denúncia, o recebimento e as consequências jurídicas possíveis
5.4 Ação Penal 2.668: Sustação, Instrução Processual e o Cenário Atual
5.5 O PL 2.858/2022 e o Espectro da Anistia
- CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS.
Confesso ter sido movido por forte interesse ao aceitar participar da banca. Antes de mais nada pelo tema. Eu próprio tenho dado a ele bastante atenção, no duplo plano, o acadêmico e o político, neste último aspecto como ativista da luta por democracia.
Mais recentemente – https://estadodedireito.com.br/anistia-a-atos-antidemocraticos-no-brasil-limites-juridicos-e-protecao-do-estado-de-direito/ – contribui com minha presidenta na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília – Ana Paula Daltoé Inglês Barbalho (“A arte pode durar ‘ainda estamos todos aqui’”) da edição de obra que pôs em tela crítica o mesmo tema. Em livro, conforme dizem os organizadores, que surge em um momento delicado da democracia brasileira em que o Congresso Nacional discute um projeto de lei de anistia àqueles que praticaram atos antidemocráticos que culminaram na invasão aos Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Em resposta, o livro reúne reflexões críticas sobre os limites constitucionais da anistia em regimes democráticos pois o Brasil não aguenta mais golpes e tentativas de golpes em sua história constitucional. Aliás, enquanto atuamos na banca essa questão, e não de forma republicana, mas mais uma vez antipovo e em atentado à própria democracia, está sendo pautada na Câmara dos Deputados por iniciativa de ética duvidosa. E é elemento de uma chantagem internacional no bojo de uma política unilateral que a presidência dos Estados Unidos quer impor ao Brasil sob pretexto de taxação de produtos que o país exporta para os EUA.
Mais do que um repositório técnico-jurídico, o livro é uma convocação à memória e à responsabilidade democráticas. As anistias, quando concedidas fora de contextos legítimos de transição política ou reconciliação nacional, tornam-se instrumentos de apagamento histórico, de estímulo à impunidade. Uma verdadeira espada de Dâmocles que pode cair sobre a democracia. Anistiar quem, em uma democracia, buscou implementar uma ditadura é, na prática, normalizar o autoritarismo.
O objetivo do livro, portanto, é duplo: fornecer fundamentos jurídicos sólidos para o debate público, demarcar posição firme pela inviabilidade jurídica e inconstitucionalidade da anistia a quem tentou o golpe de 2023. Mas, também, exercitar o papel de registrar, para a história, que houve professores, pesquisadores, juristas comprometidos com o valor democrático, com resistência jurídica e intelectual sólidas para reposicionar o debate da anistia para que o instituto seja interpretado à luz de critérios democráticos, e não o inverso. A Constituição de 1988 não permite o esquecimento dos ataques à democracia, e esta obra é uma afirmação disso: um esforço coletivo para reafirmar os compromissos democráticos da comunidade jurídica brasileira e denunciar qualquer tentativa de instrumentalizar a anistia como salvo-conduto que incentiva novas tentativas de golpes no futuro.
Volto a dizer, que de minha parte venho abordando o tema em intervenções pontuais, algumas até nesta Coluna Lido para Você. Mais recentemente – https://estadodedireito.com.br/silencio-perpetuo-anistia-e-transicao-politica-no-brasil/, a propósito do livro Silêncio Perpétuo? Anistia e Transição Política no Brasil (República Velha e Era Vargas). / Mauro Almeida Noleto. – 1. ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D’Plácido, 2024. Também em https://estadodedireito.com.br/relatorio-da-comissao-anisio-teixeira-de-memoria-e-verdade-da-universidade-de-brasilia/. A propósito, por iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania (CEAM/UnB), o autor do livro, antes uma tese de doutorado defendida naquele programa, em diálogo com a Professora Enéa de Stutz e Almeida, com mediação da professora Nair Heloisa Bicalho de Sousa, proporcionaram um rico debate a partir do tema “A difícil questão da anistia no Brasil”, que pode ser acompanhado no PPGDH Canal Youtube, acessível pelo enlace https://www.youtube.com/watch?v=7JuwMtuUoP8&t=405s.
Na minha Coluna O Direito Achado na Rua, publicada regularmente no Jornal Brasil Popular, em https://brasilpopular.com/verdade-justica-reparacao-e-garantias-de-nao-repeticao/; muito explicitamente em https://brasilpopular.com/autoanistia-uma-violencia-inconstitucional-e-inconvencionaldo-delinquente-a-fim-gerar-sua-impunidade/; e em https://brasilpopular.com/60-anos-do-golpe-de-1964-memoria-verdade-mas-tambem-justica-razoes-para-o-nunca-mais/; entre outros textos de opinião, tenho posto em tela crítica aspectos desse tema interpelante.
Também em banca examinadora da qual participei, examinando a dissertação de Barbara Guilherme Lopes elaborada sob orientação da professora Eneá – Narradores não confiáveis: o discurso do Exército Brasileiro sobre memória, verdade e justiça encontrado nos Relatórios Periódicos Mensais (RPMS) entre 1989 e 1991, apresentada, defendida e aprovada no Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), 2023, 108 fls., de novo o tema foi atentamente examinado.
A pesquisa de Bárbara remete a uma disputa narrativa histórica: o discurso sobre a ditadura civil-militar no Brasil. De um lado, o lançamento do livro Brasil: Nunca Mais, em 1985, que denuncia as violações aos direitos humanos durante a ditadura e, como resposta, o Projeto Orvil, encabeçado pelo Centro de Informações do Exército (CIE), com a intenção de contar a versão dos militares da história. O Orvil não foi autorizado para publicação, mas continuou a circular nas Forças Armadas como narrativa de variadas formas. Em 2021, foram divulgados os Relatórios Periódicos Mensais (RPMs), informativos elaborados pelo CIE pelo menos de 1989 a 1991, que perpetua o discurso do Orvil como política no sistema de informações do Exército para doutrinação de militares. Damos a isso o nome de discurso Orviliano e questionamos: qual o discurso do Exército sobre memória, verdade e justiça da ditadura civil-militar? Para isso, partimos da hipótese de que há um discurso Orviliano sobre memória, verdade e justiça no Exército Brasileiro que obstaculiza a justiça de transição. É proposta uma análise de discurso, de acordo com Orlandi (2000), nos Relatórios Periódicos Mensais, que são capazes de fornecer uma delimitação temporal que representa a redemocratização, em um período pós promulgação da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, codificamos os textos presentes nos Relatórios através da análise de conteúdo categorial, elaborado a partir da revisão de literatura sobre o pensamento político dos militares, que demonstra a centralidade da Doutrina de Segurança Nacional como fundamento. Foi possível compreender que o discurso dos RPMs traz os elementos argumentativos fundamentais do Orvil, sendo assim, foi caracterizado como um discurso Orviliano sobre memória, verdade e justiça. Sendo estes os pilares da justiça de transição, um discurso atravessado sobre a ditadura civil-militar, que apresenta uma narrativa que inverte heróis e vilões, criando inimigos, é um entrave para sua concretização. A tarefa da justiça de transição, portanto, é trabalhar os usos políticos do passado no presente a fim de se posicionar sobrea memória a ser construída (conforme transcrevi em recensão publicada na Coluna Lido para Você – https://estadodedireito.com.br/narradores-nao-confiaveis-o-discurso-do-exercito-brasileiro-sobre-memoria-verdade-e-justica-encontrado-nos-relatorios-periodicos-mensais/.
São estudos nos quais se surpreende a força promotora de agudas incidências nesse tema, por impulso dirigente (Grupo de Pesquisa) da professora Eneá. Veja-se, entre esses estudos: https://estadodedireito.com.br/nossa-historia-nao-comeca-em-1988-o-direito-dos-povos-indigenas-a-luz-da-justica-de-transicao/ – de Maíra Pankararu “Nossa história não começa em 1988”: o direito dos povos indígenas à luz da justiça de transição. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília. Brasília: Faculdade de Direito da UnB, 2023
As questões candentes que Maíra trouxe à discussão estão como salientei, na agenda de debates do Grupo de Pesquisa coordenado por sua Orientadora, do qual faz parte. Elas aparecem, por exemplo, no livro organizado por Eneá de Stutz e Almeida, ex-presidenta da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, retirada por conta de seu esvaziamento na governança anterior, mas que agora retorna para a presidir e para recuperar seu fundamento teórico e seu papel político. Confira-se a obra conforme – http://justicadetransicao.org/a-transicao-brasileira-memoria-verdade-reparacao-e-justica-1979-2021/ (A transição brasileira: memória, verdade, reparação e justiça (1979-2021), Salvador: Soffia10 Editora, uma publicação do Grupo de Pesquisa Justiça de Transição, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília).
Do que me coube inferir, o livro, dizem os organizadores (Eneá de Stutz e Almeida) “atualiza, complementa e sistematiza ideias e conceitos iniciados em textos anteriores. A autora analisa a anistia política implementada a partir de 1979 no Brasil: uma anistia da memória, que não impede a responsabilização dos violadores de direitos humanos. Estuda os mecanismos da justiça de transição brasileira até o ano de 2021, concluindo que o País vive uma justiça de transição reversa”.
Ainda na minha coluna de opinião no Jornal Brasil Popular (Coluna O Direito Achado na Rua), marquei esses temas na pauta editorial: https://brasilpopular.com/verdade-justica-reparacao-e-garantias-de-nao-repeticao/; https://brasilpopular.com/julgar-crimes-contra-o-estado-de-direito-credencia-o-stf-como-garante-da-democracia/; https://brasilpopular.com/autoanistia-uma-violencia-inconstitucional-e-inconvencionaldo-delinquente-a-fim-gerar-sua-impunidade/.
Assim que, observo, com a satisfação professante (o professor professa), o quanto essas difíceis e interpelantes, política e teoricamente críticos, mobilizam não só os estudantes de programas avançados na pós-graduação, mas os de graduação, com a disposição de Mayara, ou de Júlia Taquary que há pouco também defendeu sua monografia (https://estadodedireito.com.br/a-seguridade-social-como-expressao-da-fraternidade-um-direito-construido-pela-luta-social/), na disposição já apontada por Franco Ferrarotti que instiga o refletir que supere as incomunicabilidades paralisantes em face de pressões não só políticas mas também epistemológicas, para dar conta da necessidade de novos instrumentos e iniciativas concretas para a realização de novos resultados ((“Uma Sociologia Alternativa: da Sociologia como Técnica do Conformismo à Sociologia Crítica”, Porto: Edições Afrontamento, 1976).
Nos dois exemplos de percurso acadêmico, na etapa de graduação. Julia (na recensão que fiz descrevo sua trajetória) e Mayara, longe de apenas flanar pelos corredores da Faculdade de Direito e pelos espaços da UnB, adensaram belos currículos. Mayara praticou de modo criativo e diligente a atividade de monitoria. Sob minha supervisão, na disciplina Pesquisa Jurídica, ela atuou em seus três primeiros semestres (2020.2 até 2021.2). Também sob a supervisão de meu colega André Macedo dedicou-se por 4 semestres de monitoria de processo civil 1, de 2022.2 até 2024.1. Na modalidade extensionista participou da Advocatta (Empresa Júnior de Direito da UNB), como Gerente de Negócios – Mar de 2022 – Dez de 2023 · 1 ano e 10 meses e Assessora de Negócios – Mar de 2021 – Mar de 2022 · 1 ano. E na RED (Revista de Estudantes de Direito), foi Editora Assistente – Fev de 2023 – Mar de 2024 • 1 ano e 1 mês e Editora Executiva – Mar de 2024 – Mar de 2025· 1 ano.
O fundamento iniciação científica trouxe Mayara para um patamar de desempenho acadêmico altamente validador de toda a sua disposição (vocação no sentido weberiano do termo) para o afazer epistemológico-científico e também político, posto que em Weber não são disposições antagônicas.
Tive o ensejo de orientar a iniciação científica de Mayara e já imaginava, como acabou acontecendo, que ela buscasse aprofundar esses seus primeiros impulsos em pesquisa de maior fôlego. Com efeito, a monografia é um movimento nessa direção e Mayara não desperdiça seu esforço.
Seu projeto de iniciação científica acolhido pelo comitê e aprovado no Congresso do Distrito Federal cuida, exatamente, para o qual concorreu na condição de pesquisadora voluntária PIBIC/CNPq (2023-2024), se materializou na forma do projeto “Os Mecanismos de Distorção da Memória Histórica e as Reversões Autoritárias”, orientação Prof. Dr. José Geraldo de Sousa Júnior, FD/UnB. Como orientei o trabalho de Mayara devo dizer que reconheço os seus achados na monografia embora, por recato talvez, ela não faça citação no rol bibliográfico de sua própria contribuição autoral;
Por isso que eu próprio cite Mayara e resuma esse seu trabalho que analisa os mecanismos de distorção da memória histórica e sua relação com as reversões autoritárias, tendo como fio condutor a fábula A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A manipulação da memória é tratada como estratégia de dominação, utilizada por regimes autoritários para moldar narrativas e legitimar o poder. A distinção entre Cronos e Kairós evidencia como o tempo histórico pode ser reinterpretado, enquanto autores como Walter Benjamin e Reinhart Koselleck reforçam a necessidade de romper com a linearidade do tempo para dar voz às memórias silenciadas. A memória coletiva, nesse contexto, assume papel político fundamental, sendo um direito humano que deve ser reivindicado como instrumento de resistência. A análise percorre experiências latino-americanas — como as da Argentina, Chile, Guatemala e Brasil — mostrando como os processos de justiça de transição enfrentam disputas entre o esquecimento e a verdade. O texto denuncia os riscos do revisionismo e do apagamento histórico, como ocorrido no governo Bolsonaro, e conclui que lembrar é essencial para fortalecer a democracia, os direitos humanos e impedir a repetição de violações.
Como quer que seja, toda essa disposição, em Mayara Rodrigues de Sousa, se revela de berço, a ter em conta nas dedicatória, a sua mãe “cuja coragem indomável e furor sindicalista me permitiram ser sensível à ideia de achar o direito na rua”.
Dupla filiação. A genética, o fruto permite conhecer a árvore; e a teórica, não fosse uma referência forte no trabalho, suas escolhas seletivas, conforme ESCRIVÃO FILHO, Antônio, SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Para um debate teórico-conceitual e político sobre direitos humanos. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2021; e mais incidente em várias interlocuções, como em SOUSA JUNIOR, José Geraldo de et al (Orgs.). O Direito Achado na Rua: introdução crítica à Justiça de Transição na América Latina. Brasília, DF: UnB, 2015. 1° Ed. Vol.7.
Desdobrando o resumo a Introdução indica o objetivo central da Monografia que é analisar o papel das instituições brasileiras — especialmente o Judiciário e o Legislativo — na construção, disputa e apagamento da memória coletiva, com ênfase nos desdobramentos políticos e simbólicos dos ataques à democracia ocorridos em 8 de janeiro de 2023. A pesquisa parte do pressuposto de que memória e identidade são elementos estruturantes da cidadania e da legitimidade democrática, e que sua manipulação ou silenciamento compromete o próprio pacto fundante da Constituição de 1988.
Ao tratar da anistia não como instituto jurídico neutro, mas como instrumento de disputa narrativa e apagamento de violações, o texto investiga como as respostas institucionais às recentes rupturas democráticas refletem escolhas entre lembrar e esquecer. Nesse sentido, a mobilização em torno do Projeto de Lei 2.858/2022, que propõe anistia a envolvidos nos ataques ao Estado Democrático de Direito, é interpretada como uma tentativa de moldar a memória nacional e reconfigurar os marcos da identidade democrática.
Com base em uma abordagem crítica e interdisciplinar, ancorada em autores como Halbwachs, Ricoeur, Arendt, Popper, Fassin, Avritzer, entre outros, o estudo busca compreender os limites da tolerância democrática diante da impunidade, da cultura do silêncio e do negacionismo histórico. O trabalho, assim, se propõe a discutir como a preservação da memória coletiva pode se tornar uma estratégia de resistência democrática, e como o esquecimento — muitas vezes promovido em nome da reconciliação — pode abrir espaço para a reincidência do autoritarismo.
O texto apresenta uma articulação entre memória, identidade e poder, abordando o papel do direito como instrumento simbólico na construção e disputa de narrativas históricas. A partir de autores como Halbwachs, Ricoeur, Bourdieu e Benjamin, compreende-se que a memória não é neutra: ela é socialmente construída, seletiva e atravessada por interesses. No plano institucional, o direito se converte em um campo de poder simbólico que legitima narrativas dominantes e silencia experiências subalternas. As leis de anistia, por exemplo, operam não apenas juridicamente, mas como mecanismos de exclusão de memórias incômodas — decidindo quem é lembrado e quem é esquecido.
Nesse contexto, a concepção de O Direito Achado na Rua, que ela retira de meu livro, com Antonio Escrivão Filho, já citado, numa proposição apresentada como uma epistemologia crítica e insurgente que se alinha à teoria benjaminiana da história, ao “escovar a história a contrapelo”. A proposta valoriza a memória como prática emancipatória, compreendendo-a como um direito coletivo humano, essencial para o reconhecimento dos sujeitos que historicamente foram excluídos da narrativa oficial.
É a partir dos sujeitos coletivos de direito — movimentos sociais, populações vulnerabilizadas, povos originários, comunidades negras e periféricas — que se reativa a memória coletiva viva, contra a neutralização histórica promovida pelo direito oficial. Esses sujeitos protagonizam a disputa pela memória ao trazer à superfície experiências apagadas, insurgindo contra a hegemonia narrativa do Estado e do direito formal. Para isso, devem reconstruir o espaço público, tensionando os quadros simbólicos impostos pelas instituições e confrontando a dominação disfarçada de neutralidade.
Dessa forma, O Direito Achado na Rua não apenas denuncia as violências estruturais historicamente legitimadas pelo aparato jurídico, como também propõe uma reconfiguração do próprio campo jurídico — agora orientado pelas lutas concretas dos que reivindicam seu lugar na história. Essa concepção promove uma leitura contra-hegemônica do passado, em que o resgate da memória deixa de ser tarefa apenas dos historiadores ou juristas do poder, e se torna prática política dos que se negam a desaparecer.
Assim, disputar a memória, à luz de O Direito Achado na Rua, é disputar o próprio direito — retirando-o do monopólio do Estado e reinscrevendo-o nas experiências de resistência dos vencidos. É uma forma de insurgência narrativa que mobiliza o passado para transformar o presente e reconfigurar o futuro.
Em seu texto Mayara aponta um horizonte crítico e promissor para a investigação da memória democrática brasileira, centrado na compreensão de que a disputa pela memória é eminentemente política, coletiva e em curso, não se restringindo ao plano institucional, mas envolvendo profundamente os sujeitos sociais historicamente silenciados.
Nesse contexto, segundo ela, a justiça de transição, conforme Eneá de Stutz e Almeida, ocupa um lugar político estratégico. Ela não é apenas um instrumento jurídico ou um conjunto de políticas públicas voltadas à reparação individual ou à punição de perpetradores, mas uma arena de disputa simbólica e política sobre o que lembrar, o que esquecer, quem tem voz e quem tem direito à verdade.
Considero que o trabalho de Mayara divisa um lugar político da justiça de transição, retirado de sua leitura de Eneá de Stutz e Almeida, sua orientadora, posto sob a forma disputa pela produção da memória. Ela dá como fundante a tese segundo a qual Eneá (e a Autora-Orientadora está aqui presente para confirmar ou corrigir), se enfatiza que a justiça de transição é atravessada por uma disputa entre a memória institucional — muitas vezes moldada pela narrativa dos vencedores — e as memórias insurgentes que emergem das margens sociais. Mayara retêm uma afirmação de Eneá quando afirma que “quem controla o processo de produção de memórias é quem detém o poder” (OST, 2005, apud DE STUTZ E ALMEIDA, 2022, p. 33), levando à conclusão, nesse sentido, de que a justiça de transição deve abrir espaço à pluralidade de vozes e reconhecer o valor político da memória dos vencidos, das vítimas, dos esquecidos.
Ainda com Eneá a autora da monografia, abre crítica ao que denomina pacto do silêncio, ao denunciar o chamado “pacto da transição” — baseado na conciliação e na anistia recíproca — como um mecanismo de esquecimento institucionalizado, que perpetua a impunidade e impede a reconfiguração democrática substantiva do Estado. Assim, o papel da justiça de transição é romper esse pacto, trazendo à tona as memórias soterradas pela lógica do perdão sem verdade e sem responsabilização.
Também com Eneá, Mayara põe relevo no que considera deslocamento epistemológico e democratização da memória, pois, segundo ela para Eneá, a justiça de transição deve ser compreendida como um processo político de democratização do passado, voltado a afirmar a dignidade das vítimas e a historicizar as estruturas de violência, inclusive as que persistem sob novas formas. Isso implica reconhecer que a memória é um direito coletivo, e que o acesso à verdade histórica é condição para a cidadania crítica.
Considero uma importante contribuição da Monografia, o ter estabelecido até de modo inédito, uma intersecção entre os enunciados teóricos obtidos de sua leitura da construção epistemológica de Eneá de Stutz e Almeida, com O Direito Achado na Rua.
Nesse ponto, convoco Mayara de Sousa a confirmar se efetivamente a perspectiva de O Direito Achado na Rua se alinha diretamente à leitura de Eneá. No seu trabalho, verifico que em ambos a consideração de uma insurgência contra o monopólio do Estado sobre a memória e o direito, deslocando o foco da justiça para os sujeitos coletivos que resistem, denunciam e constroem alternativas à ordem institucional que tenta silenciá-los. Assim, a justiça de transição não deve apenas “passar a limpo” o passado, mas transformar o presente, tensionando estruturas ainda autoritárias e promovendo o protagonismo dos que historicamente foram vítimas do esquecimento.
Dado o sujeito tem-se o lugar político da justiça de transição, qual seja, conforme Eneá de Stutz e Almeida, o de quebrar o silêncio, democratizar a memória e reorientar o direito a partir das vítimas. Ela é, antes de tudo, um campo de luta, no qual se confrontam projetos antagônicos de país, de história e de justiça. Sua tarefa não é apenas reconciliar, mas transformar — por meio do resgate crítico do passado — a cultura política e jurídica que sustenta as exclusões do presente.
Será pois, esse o entendimento do trabalho: convocar para a articulação entre saberes acadêmicos, práticas jurídicas e lutas sociais — exatamente o horizonte que o texto final aponta: um direito não apenas declarado, mas vivido e disputado nas ruas, nas comunidades, nas memórias e nas resistências coletivas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário