Revista Ser Social: 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
Lido para Você, por José Geraldo de Sousa Junior, articulista do Jornal Estado de Direito
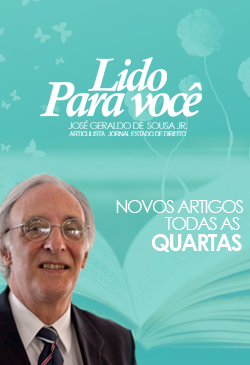
Revista Ser Social. Brasília/DF v. 28 n. 58 (2026): 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ISSN: 2178-8987 (https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/issue/view/3307)

É com tripla satisfação que apresento, neste Lido para Você, o volume 58 (jan/jun – 2026), da Revista Ser Social. A primeira razão é por figurar, desde a criação do periódico, de seu Conselho Editorial. A segunda, por conta dessa proximidade, ter participado como autor ainda que esporadicamente de algumas edições dessa indexada publicação (Capes A2). A terceira, o ter podido participar deste v. 58, por meio de uma entrevista, argutamente proposta e conduzida pela professora Maria Lúcia Leal, minha ex-diretora no CEAM (Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, da UnB), antes de tudo uma querida amiga, além de uma referência no campo, eu próprio tendo me debruçado sobre seu trabalho, aqui neste espaço do Jornal Estado de Direito (ver https://estadodedireito.com.br/a-trajetoria-social-da-crianca-e-doa-adolescente-em-situacao-de-exploracao-sexual/; https://estadodedireito.com.br/desafios-e-perspectivas-para-o-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-no-brasil/).
Dado que o volume está inteiramente disponível – (https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/issue/view/3307) – aqui, para efeito de divulgação, reproduzo o texto editorial preparado pela Comissão de Edição, formada pelas professoras e professor Thaís Kristosch Imperatori, Leonardo Ortega, Liliam dos Reis Souza e por Maria Elaene Rodrigues Alves e Michelly Ferreira Monteiro Elias. Até porque nesse texto a Comissão designa e qualifica as contribuições e em suma, o conteúdo da edição.
O número 58 da Revista SER Social faz um convite às leitoras e aos leitores para refletirem criticamente sobre os avanços e os desafios que persistem nos 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Essa edição foi elaborada em parceria com o Grupo de estudos sobre violência, tráfico de pessoas e exploração sexual de crianças e adolescentes – VIOLES/UnB e apresenta artigos temáticos e entrevistas que abordam temas correlatos ao dossiê, além de artigos de temas livres.
Os artigos temáticos se debruçam sobre os direitos das crianças e dos adolescentes a partir de diferentes perspectivas, mostrando as variadas expressões das desigualdades vivenciadas por esse público e a complexidade da realidade social em diferentes territorialidades. Também mostram as contradições e os desafios em sua implementação em diversas políticas sociais e redes de atendimento, assim como denunciam diversas violações de direitos, a exemplo da violência contra crianças e adolescentes que continua avassaladora.
É importante situar que durante o processo de elaboração desse dossiê ocorreu a COP 30, que reuniu políticos, autoridades, pesquisadores e ativistas de diversos países com o objetivo de avançar em negociações e cooperações internacionais para mitigação dos impactos das mudanças climáticas. O artigo “A crise climática e o compromisso com as gerações do presente e do futuro”, de Irene Rizzini, convida à reflexão sobre a questão ambiental e defende o direito de crianças e adolescentes viverem em um planeta ecologicamente equilibrado e saudável, apontado o elo de compromisso entre as gerações do presente e do futuro.
A relação entre direitos de crianças e adolescentes e a temática ambiental também é abordada na entrevista “Ecos da floresta e o futuro que respira: pluri-infâncias na Amazônia e os 35 anos do ECA sob o calor da COP30”, realizada com Kátia Maria dos Santos Melo, que destaca o território amazônico e as múltiplas vivências de infâncias – indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, beiradeiras, urbanas, entre tantas outras. A entrevista “35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e as experiências de sobrevivência das infâncias Indígenas” com Eni Carajá Filho, por sua vez, nos provoca a refletir sobre as infâncias indígenas.
Para complementar as entrevistas ainda temos Vicente de Paula Faleiros, que recupera a trajetória de reconhecimento de direitos de crianças e adolescentes no Brasil desde o Código de Menores e destaca a atuação da sociedade civil nessa luta, e José Geraldo de Sousa Junior, que debate a construção social da categoria criança à luz do direito brasileiro. Por fim, Maria Antonia Chávez Gutiérrez apresenta a perspectiva internacional de proteção a esse público na América Latina e Caribe, considerando o marco da Convenção dos Direitos das Crianças de 1989.
Os artigos “A regulamentação do trabalho artístico infantojuvenil no Brasil: algumas considerações”, de Ana Maria Bezerra Lucas e João Pedro Martins Cruz, e “Condições objetivas de vida dos trabalhadores infantis encarcerados na socioeducação no Nordeste”, de Rytha de Cassia Silva Santos, Rafaella Ellen de Andrade Marinho, Maria de Fátima Pereira Alberto, Tâmara Ramalho de Sousa Amorim e Alice Victória Simplício Fernandes, tem como fio condutor a questão do trabalho na infância. O primeiro analisa as consequências da insuficiência da legislação de proteção à criança, a partir das propostas legislativas em tramitação e de normativas internacionais vigentes em Portugal e França. No segundo, são problematizadas as condições de vida que antecederam o encarceramento em Unidades Socioeducativas de adolescentes e jovens que foram trabalhadores infantis em três estados nordestinos.
A garantia do direito à educação é abordada no artigo “O filantropismo social como verniz da privatização da educação infantil brasileira”, de Camila Maria Bortot e Kellcia Rezende Souza, problematizando a atuação de organizações da sociedade civil capitaneadas por atores privados. O artigo intitulado “ECA e campo das deficiências: impasses da proteção social”, de Fábio Junio da Silva Santos, por sua vez, analisa o campo das deficiências na produção de circuitos educativos que tensionam a efetivação dos direitos da infância com deficiência previstos no ECA, com destaque para as políticas públicas educacionais relativas à educação especial.
O direito à saúde tema central dos artigos “Relato de experiência cartográfica na atenção psicossocial com crianças e adolescentes vulnerabilizados”, de Solange Gonçalves Alves e Alexandra Marques Amorim, que parte da vivência de profissionais em um Centro de Atenção Psicossocial infantil universitário para compreender a atenção psicossocial, e “Crianças e adolescentes com condições crônicas de saúde: desafios à proteção integral”, de Thayane de Souza Aires Matias que, motivada pela vivência como residente de Serviço Social em um Hospital Universitário do Rio de Janeiro, problematiza a proteção integral diante da precarização de políticas sociais que ampliam as responsabilidades de cuidado atribuídas às famílias.
O artigo “Famílias desvalidas: judicialização da convivência familiar e criminalização da pobreza”, de Mariele Aparecida Diotti e Luisa Fernandes Cordeiro, tem o objetivo de discorrer sobre a judicialização do direito à convivência familiar e a (re)atualização da retirada compulsória de crianças e adolescentes de suas famílias, enquanto um mecanismo de controle e violência.
O tema da violência é tratado no artigo “Primeira infância em risco: retrato jornalístico das violências e desafios ao ECA”, de Isabel Cristina Fernandes Ferreira e Edson Jader Ribeiro Cabo Verde Junior, cujo objeto são reportagens veiculadas na imprensa digital da Região Norte do Brasil que, sob aparência de neutralidade, não apresentam indicadores relevantes para reconhecer direitos de crianças.
Entre os artigos de temas livres, apresentamos pesquisas e reflexões sobre diferentes políticas sociais. Sobre a política de saúde, o artigo “Financiamento estadual do Espírito Santo na Rede de Atenção Psicossocial (2009-2021)”, de Lara da Silva Campanha, aponta para uma tendência de aumento de recursos estaduais para a área de saúde mental, porém, centrada na lógica manicomial e hospitalar.
O artigo “A privatização da saúde através das organizações da sociedade civil”, de autoria de Ivaneide Duarte de Freitas e Edla Hoffmann, debate o processo de privatização da política de saúde, especialmente da prestação de serviços oncológicos, por meio de Organizações Sem Fins Lucrativas em Natal, Rio Grande do Norte (RN). Ainda sobre a realidade deste estado brasileiro, tem-se o artigo “Direito humano à alimentação e o MNPCT: violações no sistema carcerário norte-rio-grandense”, de Ariele França de Melo, que trata das privações presentes no sistema carcerário, com ênfase no regime alimentar, sob o olhar do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
A política de educação é objeto de análise nos artigos “A pauta antirracista nas lutas do ANDES-SN”, de Katia Regina de Souza Lima, que aborda as desigualdades sociais e raciais na educação superior e as lutas organizadas pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior/ANDES-SN para o enfrentamento do racismo nas instituições de ensino; “A política educacional bolsonarista e o uso das TICs em São Paulo”, de Potiguara Mateus Porto de Lima e Bruno Modesto Silvestre, que problematiza o uso das TICs na educação paulista diante da estratégia desinformacional da extrema-direita; e “Violência armada nas escolas: expressões das relações sociais estranhadas no capitalismo manipulatório”, de Jaina Pedersen, Eduardo Cechin da Silva e Bárbara Dutra Fonseca, que analisa as características da violência armada praticada em escolas no Brasil, debatendo relações contraditórias de sexo e raça em um sistema de exploração, dominação e opressão.
Adriely Oliveira Ribeiro Raiol, Celina Marina Colino de Magalhães, Lília Iêda Chaves Cavalcante e Ana Letícia da Costa Praia analisam o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no Brasil no artigo “O Serviço de Acolhimento Familiar no Brasil: Desafios e Perspectivas pelo Censo SUAS”, abordando a caracterização e desenvolvimento dos serviços, além do perfil das famílias acolhedoras e de origem. A atuação parlamentar de mulheres trans é objeto de análise de Geovane Pereira da Silva e Edgard Patrício no artigo “Mulheres trans parlamentares no Instagram: Erika Hilton e Duda Salabert”, sinalizando o trabalho parlamentar, preconceitos e embates sociopolíticos devido à identidade de gênero. Suely dos Santos e Ewerton de Santana Monteiro, por sua vez, tratam da complexidade de produção do conhecimento científico e sua diferenciação do conhecimento de caráter opinativo no contexto de pós-verdade no artigo “Episteme e doxa na era da pós-verdade: impactos na construção do conhecimento”.
Por fim, cabe destacar as reflexões acerca do trabalho na realidade brasileira analisadas pelos artigos “Precarização das relações trabalhistas: apontamentos sobre a uberização do trabalho”, de Laryssa Gabriella Gonçalves dos Santos, que trata das implicações das inovações tecnológicas, especialmente a disseminação da Tecnologia da Informação e Comunicação, e dos trabalhos mediados por aplicativos; e “Trabalho doméstico e de cuidado no campo: da invisibilidade à ajuda”, de Nayara Cristina Bueno e Glaucia Iaciuk, no qual encontramos reflexões sobre as particularidades do trabalho doméstico e de cuidado no campo, assim como as percepções das mulheres sobre suas vidas em Prudentópolis, Paraná.
A arte da capa é de autoria de Sebastiana Teles do Nascimento que nasceu em Boa Vista – Roraima, em 1931 e faleceu em 2018. A artista representou a cultura de seu estado, trazendo a ancestralidade da cultura dos povos étnico-raciais em seus traços, formas, cores e movimentos, e revelando a inescapável dialética da construção justa, entre a condição humana e ambiental.
Até pensei em reproduzir aqui a minha entrevista proposta e conduzida pela professora Maria Lúcia Leal. Mas me dou conta de que o seu inteiro teor está disponível com acesso a todo o conteúdo da edição. Assim, para todos os efeitos, sobretudo manter a intercomunicação com minha rede de interlocutores, faço a seguir, um resumo de minha conversa com a professora Maria Lúcia, toda ela articulada em torno do tema ECA 35 anos: O Direito como Mediação e Construção Social
Celebrar os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) exige compreender que o Direito não é um artefato estático, acumulado em prateleiras normativas, mas uma conquista dinâmica e dramática. Como propõe a perspectiva de “O Direito Achado na Rua”, a norma jurídica resulta de disputas por posições interpretativas que ocorrem no cerne do tecido social. No Brasil, tais embates são atravessados por uma colonialidade estruturante que racializa relações e hierarquiza gêneros sob a mediação patriarcal, muitas vezes excluindo sujeitos, ao limite da desumanização, para sustentar a lógica do capital.
A trajetória do ECA é marcada por tensões entre avanços emancipatórios e retrocessos punitivistas. Temáticas “ácidas” como a redução da maioridade penal, o trabalho infantil e a diversidade sexual revelam a polarização entre uma visão pedagógica de proteção integral e o retorno ao antigo “menorismo” penal. Enquanto o Judiciário, em decisões emblemáticas, reafirma a inconstitucionalidade de medidas higienistas que visam apenas a apreensão de menores para averiguação, setores do legislativo insistem em reformas que esvaziam a subjetividade jurídica conquistada pelos movimentos sociais, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.
No cenário contemporâneo, novos desafios emergem, especialmente a necessidade de regulamentação do ambiente digital. A internet não pode ser uma “terra sem lei” onde a imagem de crianças é explorada por meio da “adultização” e da erotização para monetização. A proteção contra o bullying e a exploração em rede exige uma Autoridade Nacional para a Proteção da Infância na Internet, que garanta que o ilegal no mundo real seja igualmente tratado no digital, sem que a liberdade de expressão sirva de escudo para abusos mercadológicos, termos. Aliás, propostos pelo Presidente Lula, em seu discurso na abertura da 80ª Assembleia das Nações Unidas (15/09/2025).
A questão dos povos originários e tradicionais também é central. O racismo estrutural manifesta-se no abandono das demarcações e na exploração extrativista, com impacto nas condição da infância indígena e tradicionais. Aqui, a “autodemarcação” surge como um ato político e de resistência, onde o direito ao território e à identidade cultural é reafirmado pelos próprios sujeitos originários e tradicionais. A justiça, nesse contexto, deve ser pautada pela consulta prévia e pelo consentimento, reconhecendo que a proteção desses territórios é intrínseca à sobrevivência do planeta frente à emergência climática mundial.
Em última análise, a categoria “criança” é uma construção social e histórica, não meramente um dado biológico. Deixar de enxergar o “menor” como um trabalhador miniaturizado ou um objeto de repressão para reconhecê-lo como sujeito de direitos é o grande salto paradigmático do ECA. O futuro do Estatuto depende da participação popular ativa e da capacidade das políticas públicas de serem obedientes a valores de solidariedade e emancipação, garantindo que as promessas constitucionais de 1988 não se tornem enunciados vazios, mas realidades vividas nas ruas e nas instituições brasileiras.
Já documentada e a edição já em processo gráfico, não foi comentada uma interseção crucial e profundamente perturbadora. Refiro-me ao choque entre o Direito como conquista coletiva e a “moralidade” como arbítrio individual do poder. Quando um dirigente político de estatura global afirma que sua “própria moralidade” é a régua que substitui o reconhecimento das leis, ele não está apenas emitindo uma opinião, mas operando um desmonte do pacto civilizatório que sustenta o ECA e os valores mais avançados inscritos nas convenções, nas constituições de nosso tempo e na Constituição brasileira.
Essa crise de alteridade atinge seu ápice em episódios estarrecedores, como os revelados pelos arquivos de Jeffrey Epstein. O que emerge desses registros não é apenas o crime individual, mas a existência de uma estrutura de poder que instrumentaliza a infância e a juventude como mercadoria de troca em redes de influência. Quando figuras políticas de alto escalão — como Donald Trump e outros citados em teias de exploração — operam sob a égide de uma moralidade autorreferenciada, eles rompem com o princípio da Proteção Integral. Para esses atores, a criança deixa de ser um “sujeito de direitos” para se tornar um objeto disponível ao seu arbítrio, blindado pelo capital e pela imunidade política.
A gravidade do problema se expande para o ambiente digital, onde a “adultização” e a erotização infantil são monetizadas sob a ilusão de uma liberdade de expressão sem limites. Essa “terra sem lei” é o terreno fértil para que a moralidade do mais forte se sobreponha ao Direito. A defesa do ECA, nesse contexto, torna-se uma luta contra a desumanização. Não se trata apenas de regular algoritmos, mas de impedir que o cinismo de quem se sente “acima da lei” dite os rumos da proteção social. A rede de proteção deve ser o anteparo contra essa “pedofilia institucionalizada” que se esconde nos vácuos da soberania estatal e na prepotência de líderes narcísicos.
Ao final, a categoria “criança” continua sendo o campo de batalha entre a emancipação e a barbárie. O reconhecimento da subjetividade jurídica de crianças e adolescentes, conquistado, no Brasil, pelo Movimento de Meninos e Meninas de Rua na Constituinte de 1988, é o que nos protege de um retorno ao regime de castas morais. Se permitirmos que o dirigente político, ou uma agenda partidária conservadora e pseudo confessional, decidam o que é moral ou imoral com base em sua própria vontade, o ECA será reduzido a uma promessa vazia. A verdadeira democracia exige que o Direito seja a mediação que submete inclusive os mais poderosos aos valores da dignidade humana, da solidariedade e da justiça equitativa.
É um cenário de “exceção moral” que preocupa especialmente pela impunidade jurídica desses líderes ou pelo impacto cultural que esse comportamento gera nas novas gerações, mas que se agudiza quando nos deparamos com um momento eleitoral em que a moralidade disfarça a apropriação de valores e de disputas sobre como realizar exigências éticas que sustentem projetos de país e de sociedade. Para uma continuidade dessa reflexão remeto ao meu texto com Ana Paula Daltoé Inglês Barbalho, presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, no qual lançamos questões que se desdobram desse tema altamente interpelante (ver https://brasilpopular.com/credibilidade-etica-da-igreja-e-proposicoes-para-pautas-emancipatorias-fundadas-em-justica-e-paz-no-debate-politico-brasileiro-de-2026/).

