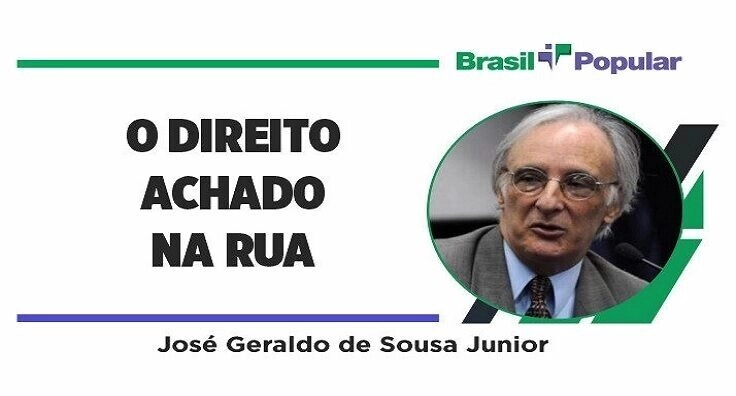O STF: Legitimidade e Mecanismos de Autocontenção
Por: José Geraldo de Sousa Junior (*) – Jornal Brasil Popular/DF

A pedido de Correio Braziliense, que pautou esse tema com insistente pertinência, acabei por oferecer um ponto de vista sobre o assunto, n a forma de uma entrevista que saiu em sua edição de 27 do corrente, Seção Eixo Capital, respondendo a algumas questões propostas pela jornalista (também Diretora da Redação, Ana Dubeux: https://blogs.correiobraziliense.com.br/cbpoder/o-codigo-de-etica-fortalecera-o-supremo-diz-ex-reitor-jose-geraldo-de-sousa-junior/.
Dado o espaço restrito para o arco de questões que o tema, na sua atualidade e urgência, reclama, continuei a refletir sobre as questões propostas à queima-roupa, identificando nuances que não se comportaram no formato da entrevista.
O tema, com efeito, que me gora proposto, era a continuidade de uma pauta que tem sido enfatizada pelo Correio Braziliense. Minhas observações seguiram essa linha de ponderação e se ligaram ao que há alguns dias fora abordado pelo advogado e professor Melillo Dinis – https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/12/7320346-um-codigo-de-conduta-e-mais-que-urgente-afirma-o-advogado-melillo-dinis.html – para quem, “Um código de conduta é mais que urgente”, tal como a coluna Eixo Capital, do Correio Braziliense, divulgou trazendo sua análise sobre os desafios da autorregulação do Judiciário.
Esse tema não é novo, nem para Melillo, nem para mim. Com Melillo, aliás, e com outros colegas (conforme PINHEIRO, Pe. José Ernanne; SOUSA JUNIOR, José Geraldo de; DINIS, Melillo; SAMPAIO, Plínio de Arruda (orgs). Ética, Justiça e Direito. Reflexões sobre a Reforma do Judiciário. Petrópolis: Editora Vozes, 1996), organizamos em Brasília, sob os auspícios da CNBB, o Seminário “Ética, Justiça e Direito. Reflexões sobre a Reforma do Judiciário”. O encontro cuidou de uma questão relevante para o desenvolvimento da democracia no país: “[…] o divórcio crescente entre o sistema judiciário e a demanda de prestação jurisdicional das camadas populares, com o objetivo de fornecer elementos de reflexão sobre a realidade da justiça brasileira, e buscar contribuições visando a reforma do judiciário à luz de critérios éticos e tendo em vista a experiência dos participantes, sem, contudo, esquecer uma abordagem prospectiva da questão mais ampla da relação entre a justiça e o judiciário brasileiro”.
O Seminário foi realizado a partir de uma situação concreta: a desconfiança generalizada acerca dos fundamentos que organizam a sociedade e os valores que estruturam as bases éticas das instituições levando a contradições entre o direito oficialmente instituído e formalmente vigente e a normatividade emergente das relações sociais, gerando questionamentos sobre os pressupostos da cultura legalista de formação dos operadores do direito e sobre os fundamentos relativos ao papel e à função social sobretudo dos magistrados.
Questões que guardam pertinência com aquela filosofia do agir humano, de que falava o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, S.J., no texto com que abriu o Seminário, transcrito no livro: “No momento em que os temas ‘ética e política’ ou o ‘direito de todos e a justiça de todos’ tornam-se temas de sensação nos meios de comunicação de massa, e em que o problema do exercício eficaz da administração da justiça deixa o recinto austero dos tribunais para tornar-se problema social das ruas e dos campos, convém voltar nossa atenção e nossa reflexão para a tarefa primordial da educação ética que é a verdadeira educação para a liberdade. O mundo ético não é uma dádiva da natureza. É uma dura conquista da civilização. Como também tem sido uma conquista longa e difícil o estabelecimento e a vigência do Estado democrático do Direito”.
Essa é a dimensão relevante para debater questões relativas a autorregulação ética de condutas, como ocorre em todas as partes. O Governo instituiu uma Comissão de Ética Pública, muito ativa, na avaliação da conduta dos agentes públicos em todos os níveis e o próprio sistema corporativo tem se valido da modelagem de códigos de ética para orientar seus procedimentos.
Menciono, a propósito, o “Código de Ética do Correio Braziliense” que, nesse contexto costuma se inserir na discussão mais ampla sobre ética jornalística — um tema que, de forma geral, engloba princípios como veracidade, precisão, independência e responsabilidade social da imprensa, itens também presentes em códigos de ética jornalística organizados por entidades profissionais. Sobre o “Código de Ética do Correio” publiquei logo que lançado, um comentário publicado um comentário, O Código de Ética do Correio Braziliense. Correio Braziliense, Brasília, DF, p. 13, 17 nov. 1997.
Não é, pois, extravagante, a notícia de que o ministro Edson Fachin, presidente do STF, propôs um código de conduta para ministros, inspirado em modelos como o alemão, o norte-americano e o canadense, visando maior transparência e prevenção de conflitos de interesse, com regras sobre divulgação de verbas, quarentena para aposentados e proibição de advogar no tribunal, enfrentando resistência interna, mas com apoio de ex-presidentes e busca por diálogo para implementá-lo.
Claro que há resistência interna, mas o presidente insiste na ideia de buscar fortalecer a credibilidade do STF, que tem cobrado transparência de outros Poderes, sempre na linha de uma disposição consciente e orientadora, não correcional, autorreferente mesmo quando incidem na discussão sobre os limites éticos da atuação de cônjuges ou parentes de ministros em processos relacionados ao STF e como isso deveria ser tratado em um código de conduta.
Ora, no direito brasileiro, a atuação de cônjuges ou parentes de magistrados em processos judiciais é regulada principalmente pelos institutos do impedimento (vedação objetiva) e da suspeição (avaliação subjetiva), complementados por regras deontológicas (códigos de ética e de conduta). O objetivo central é preservar a imparcialidade judicial e a confiança pública na Justiça, podendo levar inclusive a situações de nulidade judicial.
Já há previsão legal para essas ocorrências (Códigos de Procedimentos, Lei Orgânica da Magistratura e Código de Ética da Magistratura Nacional, estabelecido pelo CNJ). Essas normas não protegem apenas as partes, mas a legitimidade do Poder Judiciário como instituição democrática. A imparcialidade judicial é compreendida hoje não só como um requisito técnico, mas como um valor público, indissociável da ética, da transparência e da confiança social — tema que dialoga diretamente com a crítica democrática do direito e com a noção de justiça como prática social.
Penso que o tema ganha mais repercussão na medida em que questões éticas e de conduta impactam a imagem do STF perante a sociedade. Este, aliás, é um tema ao qual venho me dedicando há algum tempo. Às vésperas da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, no âmbito do Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte instalado pelo Reitor Cristovam Buarque, na UnB, publiquei o artigo “Triste do Poder que Não Pode, p. 25-29 in Constituinte: temas em análise / Vânia Lomônaco Bastos, Tânia Moreira da Costa, organizadoras. Brasília, Universidade de Brasília, Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, 1987.
O núcleo argumentativo de meu texto foi “o Judiciário e a hesitação para constituir-se poder”. Meu pressuposto assentou na tese de que a representação moderna do princípio formulado por Montesquieu de que o poder controla o poder proporcionou que sociedades de democracias representativas, como a norte-americana, desenvolvessem mecanismos eficazes de contrapesos e contenções entre poderes. Ninguém duvida que no presidencialismo praticado nos Estados Unidos o Judiciário, assim como o Legislativo, não estejam habilitados a conter os poderes do Executivo.
Entre nós, a polêmica acesa em torno da habilitação do Judiciário constituir-se uma expressão de poder, numa configuração mais precisa de seu papel contramajoritário de controle da constitucionalidade e de jurisdição sobre as garantias da cidadania, associou-se também, a desconfiança das propostas democratizadoras do Judiciário com propostas e soluções visando à amplitude da participação popular também na Justiça.
No primeiro caso, a solução de compromisso acalmou o mal-estar que causava uma necessária redefinição do Supremo Tribunal Federal diante da ideia de criação de um Tribunal Constitucional. No outro, a acusação de democratismo em certos meios, afirmando a intenção de romper o elitismo da Justiça tendendo a confundir aperfeiçoamento e busca de eficiência no Poder Judiciário com a simples participação popular nas decisões tendentes a transformar a Justiça em cenário preferencial de paixões pessoais e políticas.
Ora, a popularização da Justiça, se este é o objetivo, sequer colocou sugestões em curso noutros países de criação de tribunais populares ou de eletividade da magistratura. E o receio de assumir a realidade política das leis e da função dos juízes não pode erigir-se em obstáculo às iniciativas de reavaliação do papel do próprio Judiciário na sociedade.
Em Porteiro ou Guardião? O Supremo Tribunal Federal em Face aos Direitos Humanos, Antonio Escrivão Filho. São Paulo: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Brasil/Articulação Justiça e Direitos Humanos (JusDh), maio de 2018, meu colega na UnB, afirma que para contextualizar os dados de análise, sobretudo no manejo comparativo das situações tomadas como referência, o eixo interpelante dos dados, o percurso institucional do sistema de justiça, notadamente o Supremo Tribunal Federal em seu trânsito de refundação entre conjunturas políticas em deslocamento (da ditadura civil-militar de 1964 ao sistema de enunciado democrático pós 1985 e delineadamente pós 1988 com a Constituição da transição), foi designado pelo Autor como o espocar de um curto-circuito histórico: autonomia, independência e protagonismo judicial no Brasil.
Do que cuidou foi conferir a ocorrência de uma expansão política do judiciário em face de sua interação com o sistema político e a sociedade civil. E de modo mais preciso, a necessidade de considerar nesse processo, não bastar compreender a ideologia que compromete a ação individual de juízes sem entender o fluxo de interação ideológica entre tribunais e academia, mídia, grupos sociais organizados e outras instituições políticas.
Não é difícil estimar o potencial curto-circuito, quando se constata a súbita sobrecarga política sobre uma estrutura destreinada a participar democraticamente da deliberação sobre conflitos de elevada intensidade política, econômica e social, na medida da fórmula que alia expansão política e blindagem institucional e em oposição à sua abertura democrática ao dialogo nos termos da participação e controle social.
Para Escrivão Filho, ao contrário da disposição de fomentar noções de autonomia e independência concebidas como princípios políticos próprios da função judicial diretamente referentes à garantia da sociedade contra a arbitrariedade do Estado, as alianças então construídas sobretudo durante a mediação constituinte (1988), ao invés de forjar requisitos de neutralização do sistema – reconhecimento ontológico da condição política da justiça – deixou que esse se visse permeado pela ideologia da neutralidade – enredando-o em injunções a serviço da reprodução das tradições de uma cultura institucional acostumada e orientada à manutenção do status quo.
Eis o tamanho do desafio que se coloca para a sociedade na qual se constitui a expressão de soberania popular que deve designar o perfil do Judiciário no desenho da institucionalidade em construção, sobretudo por que o STF tem sido visto como protagonista na resolução de temas que caberiam ao Legislativo, abrindo áreas de fricção com os demais poderes e, em consequência, riscos que derivam dessa dinâmica.
Parte da discussão, então, busca focalizar medidas normativas, institucionais ou culturais poderiam fortalecer a legitimidade do STF e reequilibrar a relação entre os Poderes, num enquadramento que pode levar a crises, não só de natureza jurídica, política ou de percepção pública, como perda de confiança popular afeta a autoridade das decisões judiciais.
Para responder a essas questões, combinadas, recorro mais uma vez a minha contínua interlocução com Melillo Dinis, agora como membros integrantes do Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que oferece periodicamente, ao episcopado brasileiro, avaliações sobre a realidade brasileira e internacional, sob a perspectiva social (há um outro Grupo que faz a análise sob a perspectiva eclesial).
Na análise de abril deste ano – https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/test-for-pdf/CONJUNTURA-NACIONAL-Abril-2025-1.pdf – o tema foi Conjuntura Nacional: Desafios e esperanças. Um capítulo específico foi dedicado ao Poder Judiciário. Embora uma criação de um qualificado e amplo coletivo acadêmico e profissional, nesse ítem foi forte a incidência de Melillo e também minha.
Partindo das exortações do Papa Francisco nessa questão, convocando para uma atuação humanizadora da Justiça, deixamos claro que uma agência sobredeterminante do justo (Judiciário) sobre o legal (legislativo e executivo), não afronta a tese abstrata da separação dos poderes, como a formulou Montesquieu.
O Papa não foi o primeiro a se dar conta de um parti pris embutido na formulação do autor do “Espírito das Leis”. Louis Althusser relativamente ao Judiciário, como aparece em “O Espírito das Leis (1748), no Livro XI, Capítulo 6, não deixava de expressar a visão (o parti pris) do estadista sobre a necessidade de divisão entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para evitar o abuso de poder. Longe da designação que “os juízes da nação não são, pois, mais que a boca que pronuncia as palavras da lei, seres inanimados que não podem moderar nem sua força nem seu rigor“, para que se constitua “um poder invisível e nulo, embora independente, mas nunca ativo como os outros poderes. Para Althusser, a posição de Montesquieu refere-se à sua condição de classe e ao viés ideológico subjacente à sua teoria. Apesar de defender a separação dos poderes como um mecanismo para evitar o despotismo, sua proposta não era neutra, mas refletia os interesses da burguesia emergente. O objetivo era garantir um equilíbrio entre a monarquia e a aristocracia, mantendo o Judiciário como um poder separado, mas sem verdadeira autonomia política. A separação dos poderes não significa igualdade entre eles, pois o Legislativo e o Executivo mantêm um papel dominante. Ao se exercitar por “juízes naturais” e não por instâncias políticas, a Justiça termina por favorece uma elite jurídica e aristocrática.
Não beneficia toda a sociedade, mas sim consolida um modelo de Estado que equilibre os interesses da monarquia e da burguesia, evitando tanto o absolutismo quanto a revolução popular.
É verdade, pois, na sequência do reposicionamento institucional da estrutura de poderes que foram estabelecidos com a modernidade e com a ideologia liberal, que o equilíbrio entre eles passou a ser uma mediação da política, uma disputa entre os fatores reais de poder que formam a sociedade, um intento de captura, um esforço de cooptação, junto com o próprio ethos corporativo que muitas vezes prevalece na sua configuração.
Tratei desse tema num artigo SOUSA JUNIOR, José Geraldo de. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o ‘parti pris’ de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, v. 17, n. 68, p. 15-22, out./dez. 1980, que vi chegou a ser inscrito pelo professor Alexandre de Moraes na bibliografia de seu festejado compêndio Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Editora Atlas, 4ª dição, 2004.
Vem daí a questão central. O STF deveria adotar mecanismos de autocontenção para recuperar legitimidade? A transparência e colegialidade seriam suficientes? Onde está o limite entre controle de constitucionalidade e ativismo judicial? O STF tem extrapolado sua função constitucional ao atuar na política?
Nos Estados Unidos hoje, juízes temem pela própria segurança em meio a críticas que recebem de setores articulados na nova governança1. Segundo John Roberts, presidente da Suprema Corte dos EUA, em seu relatório anual de fim de ano em dezembro (2004), o número crescente de ameaças à independência do Judiciário, incluindo pedidos de violência contra juízes e sugestões “perigosas” de autoridades eleitas para desconsiderar decisões judiciais das quais discordam. Nas mídias sociais, Musk e parlamentares republicanos descreveram os juízes como ameaças à democracia, transformando o papel do judiciário federal — um ramo do governo criado para controlar o Poder Executivo e o poder do Congresso — em algo negativo. “A única maneira de restaurar o governo do povo nos Estados Unidos é destituir os juízes“, escreveu Musk em uma publicação (Juízes dos EUA temem por sua própria segurança em meio a críticas de Musk. (Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2025/03/05/exclusivo-juizes-enfrentam-aumento-de-ameacas-nos-eua-em-meio-a-criticas-de-musk-as-suas-decisoes.htm. Acesso em 27/12/2025).
De toda sorte, estamos vendo que essas questões têm hoje uma globalidade que inquieta. Também tenho tratado desse tema, inclusive no que concerne à soberania e à salvaguarda da independência do Judiciário, tendo me posicionado com perplexidade diante de atitudes extravagantes do mandatário da principal potência global. A propósito, em https://brasilpopular.com/contra-a-truculencia-unilateralista-no-global-e-os-silverios-dos-reis-no-local-preservar-a-soberania-nacional-e-a-opcao-multilateral/ – considerar que “a perplexidade não se deu apenas pela dimensão econômica internacional incidente na modelagem de trocas, mas também pela condicionante política de vincular a iniciativa a uma exigência de suspensão de jurisdição em face do indiciamento de autores de uma trama golpista, capitaneada por ex-presidente da República contra a democracia e contra a constituição. Essa conexão extravagante, por um ou por outro motivo, logo ativou uma forte reação social, não necessariamente com identidade de fundamentos ou disposição, mas muito consensualmente pela rejeição ao seu duplo pressuposto”.
Certamente contribui para a disposição prepotente que não hesita em apontar caminhos de interferência, a experiência subordinante ainda praticada em estados historicamente consolidados, nos quais os sistemas de justiça são hierarquizados administrativamente pelo executivo ou em conselhos de estado. Mas não é o caso do Brasil, por sua história institucional e do próprio Supremo Tribunal Federal (a propósito, https://brasilpopular.com/supremo-tribunal-federal-esse-desconhecido-intimo/).
Também no Correio Brazilense – https://www.correiobraziliense.com.br/direito-e-justica/2024/09/6939975-moraes-tem-o-poder-que-a-constituicao-lhe-atribui-diz-jurista-e-ex-reitor-da-unb.html – sobre o principal debate jurídico que precisa ser travado neste momento, foi ocasião que me permitiu afirmar que o essencial é não fazer da lei uma promessa vazia de realização do Direito. Discutir o acesso democrático à Justiça e a própria Justiça a que se quer acesso. Ser guardião, como escreveu um colega meu Antonio Escrivão Filho, e não porteiro da Constituição (Kafka), principalmente em temas como direitos humanos (vida), em face do neoliberalismo (coisificação do humano). Fazer-se teoricamente sensível às exigências do justo (conforme vem indicando o CNJ sobre protocolos para decisões com enfoque de gênero, antirracistas, atentas a sistemas ancestrais de juridicidade). Compreender que a Constituição não é só o texto que a veicula, mas são as disputas por posições interpretativas que a realizam. Em suma, com Victor Nunes Leal (antigo ministro do STF, aposentado pelo AI-5), referindo-se ao Supremo, esperar que a sua atenção capte o movimento do direito a andar pelas ruas porque, “quando anda pelas ruas, colhe melhor a vida nos seus contrastes e se prolonga pela clarividência da observação reduzida a aresto”.
(*) José Geraldo de Sousa Junior é professor titular na Faculdade de Direito e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB)