O perdão enquanto categoria da Justiça de Transição
Por: José Geraldo de Sousa Junior (*) – Jornal Brasil Popular/DF
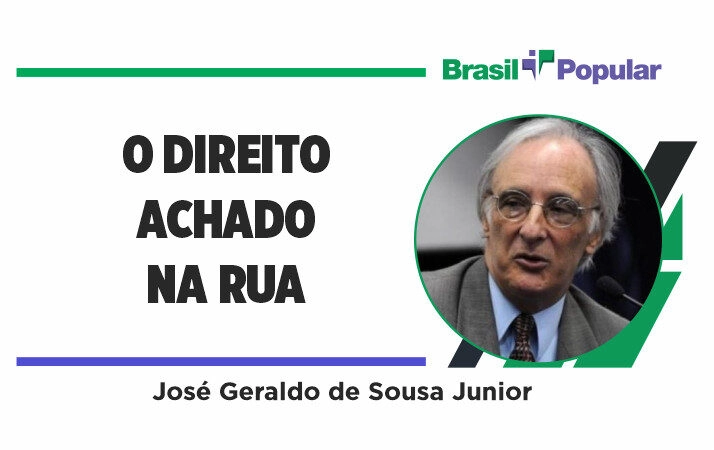
O Superior Tribunal Militar realizou nesta segunda-feira (24), evento de lançamento do Programa Diálogos Globais, iniciativa do Comitê de Governança e Relações Internacionais do STM, coordenado por Bárbara Livio, Juíza Auxiliar da Presidência do STM.
O programa, que se estrutura em diferentes eixos voltados ao fortalecimento da governança, ao diálogo internacional e à reflexão estratégica, nasce com o propósito de aproximar Justiça, Defesa e Direitos Humanos em perspectiva global.
O lançamento foi marcado por um seminário especial sobre formas inovadoras de combate à violência e a importância da defesa na proteção dos direitos humanos, com três convidados, eu entre eles e ainda o Coronel, Dra Selma Lúcia de Moura Gonzales, da Escola Superior de Defesa e do Dr. José Filho, Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça
O debate acabou se constituindo uma oportunidade única de diálogo qualificado, reflexão estratégica e abertura de um novo ciclo institucional no STM. De minha parte procurei balizar minha manifestação em dois pontos principais.
O primeiro ponto, retomando um tema que já foi tratado por mim, aqui no Jornal Brasil Popular, em minha coluna O Direito Achado na Rua – https://brasilpopular.com/a-defesa-da-soberania-e-as-emergencias-do-nosso-tempo/. Focalizar, aludindo ao tema do evento, a clivagem contemporânea do direito internacional dos direitos humanos, ao acicate dos desafios de contextualização do tema da soberania. Ainda que Soberania, no Direito Internacional clássico, continue a se conceituar como o poder jurídico supremo do Estado de autodeterminar-se e governar-se livremente, no interior e no exterior, em igualdade com os demais Estados, sem submissão a qualquer autoridade superior, no Direito Internacional contemporâneo o conceito clássico foi relativizado. Com efeito, a noção de soberania, originalmente pensada no Direito Internacional como independência dos Estados, ganhou novos usos substantivos no plano interno dos países, especialmente a partir da segunda metade do século XX, quando começou a se associar à autodeterminação dos povos, à cidadania ativa e à efetividade dos direitos fundamentais e dos direitos humanos.
Adianto que muito me instigou tratar dessa questão no debate, recuperando, por sua alta importância não só conjuntural mas paradigmática, os principais elementos relacionados à soberania, no discurso do Presidente Lula na abertura da 80ª Assembleia da ONU.
Sob o enfoque da Soberania como questão inegociável – “nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”, a afirmação do Presidente está ligada à ideia de que o país será “nação independente” e “povo livre de qualquer tipo de tutela”, principalmente quando se armam para afrontá-lo sanções unilaterais e intervenções externas: “sanções arbitrárias e unilaterais”, que se tornam assim instrumentos que ferem a soberania dos Estados.
Assim que, no plano externo e no plano interno, a chave de compreensão da Soberania, deve ser a do “Multilateralismo vs. desordem internacional”, condição para que a Soberania possa ser plenamente defendida num mundo plural em que as regras internacionais e o direito sejam respeitados. Para o Presidente Lula há “desordem internacional, quando marcada por concessões à política do poder, atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais”.
Na minha análise do pronunciamento do Presidente Lula, deduz-se uma necessária ligação entre soberania, democracia e justiça social, de modo que a soberania não seja apenas autonomia política do Estado, mas a capacidade de garantir direitos básicos (saúde, educação, moradia etc.), reduzir desigualdades, proteger democracia, gênero, infância, migrantes — tudo isso como parte integrante de uma soberania digna. A fome, a desigualdade social e a pobreza são ameaças concretas à democracia e, portanto, à plenitude da soberania nacional.
No caso do Brasil, essa ampliação é particularmente expressiva porque o país articula o conceito clássico de soberania (autonomia nacional) com políticas públicas que buscam garantir a soberania popular e material, isto é, a capacidade concreta de o povo decidir seu destino.
Basta ver os principais usos e políticas associadas à soberania no plano interno brasileiro, anotando-se a forma de soberania popular constitucional e política (art. 1º, parágrafo único, da CF/88). Ela se expressa quando se criam e se fortalecem conselhos e conferências nacionais (como os de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente, cidades, povos indígenas etc), expressão da soberania participativa, uma marca das gestões democráticas pós-1988.
Tal como afirmei no artigo mencionado, a síntese interpretativa do discurso do presidente Lula, que procurei por em relevo, é que ele desloca a soberania da sua dimensão clássica (territorial e estatal) para uma dimensão social e popular. Soberania como poder de um povo decidir sobre seu destino com liberdade, justiça e dignidade, dentro e fora de seu território. O resultado é uma “soberania democrática”, que rejeita tutelas externas; protege direitos internos; busca parcerias internacionais baseadas na igualdade e não na subordinação. Minha homenagem ao querido embaixador Alessandro Candeas que organizou na Cisjordânia, a repatriação dos brasileiros confinados em Gaza no início dos bombardeios (https://www.publico.pt/2025/08/30/publico-brasil/entrevista/embaixador-conta-livro-experiencia-resgatar-brasileiros-faixa-gaza-2145501).
Uma Soberania que não seja sufocada com a paz dos cemitérios” (Conforme o Dom Carlos, Infante de Espanha de Friedrich Schiller escrito em 1787, dramatizando o conflito entre Dom Carlos, filho do rei Filipe II da Espanha, e o Marquês de Posa, em torno da liberdade, da tirania e da paz imposta pelo poder real: “Sire, esta é a paz dos cemitérios.”). Por isso a firme reprimenda do Presidente Lula: “Ali (em Gaza) também estão sepultados o Direito Internacional Humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente”.
Uma Soberania, em suma, que nos mova na consciência filosófica, sociológica, política, teológica, jurídica, mas radicalmente ética de que – disse o Presidente Lula, “A única guerra de que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza.”
O segundo ponto, a partir de uma perspectiva interpelante para um ato (gesto) político que salta do âmbito ético para o pedagógico institucional. Refiro-me à manifestação da ministra Elizabeth, presidente do STM, durante o ato ecumênico, de caráter pastoral-teológico durante homenagens a Vladimir Herzorg, ao ensejo de 50 anos de seu assassinato político.
A manifestação da ministra que provocou liberar uma meditação radical e densa sobre uma questão central no que se chama Justiça de Transição, mas que provoca interlocução filosófica, política, jurídica e inclusive teológica.
Considero muito pertinentes essas aproximações para o debate sobre um tema antigo, já que o perdão é uma mediação civilizatória para arrematar o civilizacional, não só como contrição mas como dimensão comunitária do fraterno. Assim ele aparece no pastoral, o pai nosso, dos cristãos, seja na sua origem fundante do comunitário, relativamente ao perdão das dívidas (princípio do jubileu) ou o atual perdoai as nossas ofensas (já com o teológico capturado pelo mercado, como mostram Franz Hinkelammert e Hugo Assmann (A Idolatria do Mercado). Mas também em Freud (Totem e Tabu e o Mal Estar da Civilização).
Claro que não quero aqui aludir em sentido jurídico estrito. No âmbito penal, ao perdão, a anistia, a graça e o indulto, cujo efeito é remissivo. Mas ao modo como na chamada Justiça de Transição, o perdão entrou na categoria, um pouco talvez como está em Hannah Arendt, referido ao gesto secularizado, erigido a ser um ato político laico que possibilita o recomeço histórico. A Arendt de (A Condição Humana, 1958), onde introduz o perdão como categoria da ação política, o único modo de romper a irreversibilidade das ações humanas, pois o agir, uma vez feito, não pode ser desfeito e assim, podendo devolver ao espaço público a possibilidade de recomeço, condição essencial da política. Assim é que ela cita o Evangelho (“perdoai setenta vezes sete”) não como ato religioso, mas como a descoberta de uma nova política da liberdade.
Penso que a ministra se inspirou na disposição que, a partir da Justiça de Transição, passou-se a atribuir ao perdão, enquanto categoria da própria Justiça de Transição, a representação de um processo (definição da ONU) que combina verdade (reconhecimento das violações), justiça (responsabilização), reparação (material e simbólica), reformas institucionais (reconstrução democrática) e garantia de não repetição (educar para o nunca mais).
O perdão entra nesse quadro como um elemento simbólico de reparação moral e reconciliação democrática. Não é substituto da justiça — é seu complemento ético. Como afirmou Paulo Abrão, o presidente da Comissão de Anistia, ex-Secretário Executivo da CIDH ao justificar o pedido de perdão nos atos públicos de anistia: “Não pedimos perdão para esquecer, mas para lembrar. O perdão é o reconhecimento de que o Estado falhou, e de que só reconhecendo sua falha poderá ser democrático.”.
Sob a presidência de Paulo Abrão, quando a Comissão adotou uma visão humanista, restaurativa e dialógica da anistia, em contraste com a concepção meramente administrativa ou indenizatória que prevalecia antes (foi nesse contexto que em parceria com a Comissão que editamos o volume 7, da Série O Direito Achado na Rua: Introdução Crítica à Justiça de Transição na América Latina (https://www.gov.br/mj/pt-br/central-de-conteudo_legado1/anistia/anexos/direito-achado-na-rua-vol-7_pdf.pdf). Veja também o documentário https://www.youtube.com/watch?v=GB75KS9I8pA&list=PL4ggm_qRYF0NFdhiV2mCk0DCLJwHxWajt, que abre com o pedido de perdão aos familiares de Glauber Rocha, anistiado político.
Com inspiração nas experiências da África do Sul, Chile e Argentina, a Comissão passou a tratar os atos de anistia como ritos públicos de reconhecimento e reparação moral, em que o Estado reconhecia a responsabilidade histórica pelas violações cometidas durante a ditadura (1964–1985).
Paulo Abrão e sua equipe introduziram, nos atos públicos de concessão de anistia, um momento simbólico em que, ao proferir a decisão, o representante da Comissão declarava: “O Estado brasileiro pede perdão a [nome do anistiado ou de sua família] pelos atos de exceção e perseguição de que foi vítima.” Essa fórmula não constava da lei. Foi uma construção ética e política, com base no princípio da responsabilidade do Estado e na dimensão moral da reparação, que buscava ir além da indenização financeira.
Todavia, podemos encontrar na base da adoção desse rito, a sua fundamentação teórica e jurídica para efeito de legitimidade institucional. Que compreende, a Justiça de Transição (ONU, 2004), prevendo que a reparação deve incluir medidas simbólicas e reconhecimento público da responsabilidade estatal. A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito à Verdade (2010), ao afirmar que o reconhecimento e o pedido de perdão são parte essencial da restauração da dignidade das vítimas. O Art. 5º, inciso XXXV, CF/88 estabelecendo direito à tutela jurídica efetiva inclui a reparação moral e o Art. 8º do ADCT (CF 88), que estabelece o dever estatal de reconhecer e reparar os atingidos por atos de exceção.
Portanto, o “perdão” no rito da anistia não é perdão das vítimas para os perpetradores, mas sim o pedido de perdão do Estado às vítimas — uma inversão simbólica do poder, em que o Estado reconhece sua culpa histórica.
Qual o significado político e pedagógico desse gesto? Primeiro, cumprir uma função restaurativa, vale dizer, reintegrar simbolicamente a vítima à comunidade política; e logo, reconhecer sua luta como legítima e contribuir para reconstruir sua dignidade e memória.
Segundo, uma função pedagógica, poder construir uma memória pública de responsabilidade, o que implica ensinar o Estado e a sociedade a não repetir as práticas autoritárias; e logo reinscreve a anistia dentro de um projeto de cidadania democrática e não de esquecimento. A introdução do perdão, portanto, foi uma forma de subjetivar o Estado, transformando-o de agente violador em agente de reconhecimento.
Era um ato político de reconciliação sem impunidade, uma forma de “verdade em ato”, como expressou o próprio Paulo Abrão em diversos pronunciamentos e textos acadêmicos sobre a experiência brasileira de justiça de transição: articular esse fundamento teórico diretamente com o ato público da Comissão de Anistia, indicando como o texto do pedido de perdão foi construído a partir dessa filosofia do reconhecimento e do recomeço (há registros documentais e discursos em que isso é explicitado).
Registro, a propósito, que no âmbito do PPGDH – Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania (CEAM/UnB), a dissertação de mestrado de Sueli Aparecida Bellato, Justiça de transição: perdão ou desculpa em nome do estado brasileiro? 2014. 155 f., il. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
O que a Dissertação de Sueli, que tive ensejo de orientar, quer demonstrar é que “o Perdão é a ponte do início de uma travessia e não é um ponto final. O Brasil realiza a reparação moral com o pedido de desculpas e uma das maiores políticas de reparação econômica. A prática da auto anistia, a falta de responsabilização e a negação de toda verdade devem ser superadas com vista a reconciliação e a paz duradoura. Afirmar a necessidade de responsabilização não é querer vingar-se, não é revanche, é Justiça. É simplesmente ler a página antes de virá-la. Isoladamente nenhum instrumento da Justiça de Transição garante a Reconciliação e a Não Repetição. Desculpas não é Perdão!”.
(*) José Geraldo de Sousa Junior é professor titular na Faculdade de Direito e ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB)

Nenhum comentário:
Postar um comentário